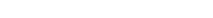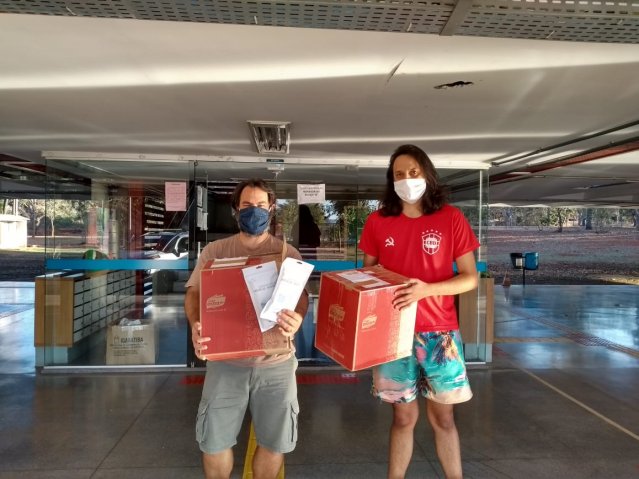-
 Destaques
Destaques
Deslocados ambientais somalis: um caso de busca por reconhecimento e por justiça socioambiental
Marcele Mariani Popularizado em 2000 pelo cientista holandês Paul Crutzen, vencedor do Nobel de química de 1995, o termo “antropoceno” é um conceito utilizado por pesquisadores para designar a época geológica vivida pelo planeta atualmente, a qual também é chamada de “era do colapso ambiental”. Trata-se de um período definido pelo impacto irreversível da ação antrópica sobre a Terra, a principal responsável pelas mudanças climáticas percebidas especialmente a partir do advento da Revolução Industrial, ainda no século XVIII. Boa parte das suas aterrorizantes consequências são amplamente conhecidas, no entanto, há aquelas que, notadamente, atingem as populações mais pobres e vulnerabilizadas, que recebem um nível de importância muito menor do que o minimamente aceitável. Esta análise se dedica a discutir, por meio da investigação do caráter anacrônico da concepção oficial de refugiados e da mobilização de conceitos como o de racismo ambiental e o de justiça climática, uma delas: a questão dos refugiados ambientais, com enfoque dado à situação somali. Os limites do conceito de refugiado perante a intensificação das mudanças climáticas É imprescindível trazer ao debate a definição de migrantes ambientais e a falta de reconhecimento destes indivíduos pelo Direito Internacional. Introduzida em grandes debates ambientais em 1985 por Essam El-Hinnawi, especialista do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a expressão “refugiados ambientais” refere-se àqueles indivíduos forçados a se deslocarem em razão de eventos climáticos antrópicos ou naturais (El-Hinnawi, 1985). Contudo, apesar do nome de refugiados, esses indivíduos não se encaixam no regime de proteção vigente, uma vez que a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 não os categoriza como tal, dadas as circunstâncias do tempo em que foi redigida — na época, a concepção de refugiados se consolidou com base na situação vivida por milhões de deslocados na Europa em razão da Segunda Guerra Mundial. No que se refere aos deslocados internamente — que compõem o número mais expressivo de afetados pelas catástrofes ambientais —, sabe-se que 220 milhões de deslocamentos internos foram registrados na última década, segundo estimativas apresentadas pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR, 2024). Ainda nesse contexto, o Institute for Economics & Peace (IEP) prevê a possibilidade de 1,2 bilhão de pessoas serem deslocadas globalmente até 2050 devido à crise climática (IEP, 2020). No que tange à conjuntura somali, o que se observa é um cenário desolador. O país está localizado no Chifre da África, região de clima árido e semiárido, suscetível a fenômenos naturais extremos. Desde a década de 1980, a região tem testemunhado uma ascensão significativa de suas temperaturas, o que, por sua vez, contribui para uma maior ocorrência de secas, chuvas erráticas e enchentes (Tegebu, 2020 apud Chaudhry; Ouda, 2021). De acordo com relatório do Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) e do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2021), as projeções apontam para um aumento de até 4,3ºC na Somália até 2100. Assim, não se pode descrever melhor o histórico somali de secas com nenhuma palavra além de “dramático”, haja vista o seu caráter pastoril e a sua dependência da agricultura de sequeiro (rainfed agriculture) — uma “técnica agrícola para cultivar terrenos onde a pluviosidade é diminuta” (Insper, 2025). Diante desse contexto, em 2009, cerca de 50 mil pessoas migraram para o Quênia em virtude de conflitos e da seca prolongada (Hassan, 2009). Em 2011, mais de 920 mil indivíduos se deslocaram para países vizinhos fugindo dos efeitos da desertificação de suas terras (Voa News, 2011). Entre 2010 e 2012, em decorrência de episódios críticos de fome, aproximadamente 260 mil somalis faleceram (BBC, 2013). Já em 2017, mais de seis milhões foram atingidos pela aguda escassez de água e de alimentos resultante da tragédia ambiental (Prinsloo, 2017). Entretanto, foi entre 2021 e 2023 que essa nação do leste africano enfrentou a pior seca em mais de 40 anos, causadora da migração de mais de um milhão de impactados. Por volta de 8,25 milhões precisaram de ajuda humanitária, e 43 mil vieram a óbito, sendo metade menores de cinco anos (Zage, 2025). Hoje, calcula-se que existem quase quatro milhões de deslocados internamente só na Somália e mais de 937 mil refugiados somalis (ACNUR, 2025), tanto por causa de acontecimentos naturais extremos, quanto por causa da insegurança provocada pela turbulência política experienciada com tamanha gravidade desde a guerra civil iniciada em 1991. Em 2025, o quadro de seca permanece, e novas sondagens de segurança alimentar indicam que em torno de um quarto da população do país poderá sofrer com graus críticos de insegurança alimentar entre abril e junho deste ano (Mishra, 2025). Racismo ambiental e a noção de injustiça climática Embora a Somália pouco contribua com as mudanças climáticas correntes, quando contraposta a nações desenvolvidas, os somalis fazem parte do grupo que mais padece às custas das reações do planeta à sua devastação: pobres, racializados e adeptos de um estilo de vida tradicional. A título de comparação, em 2022, a Somália é responsável por cerca de 0,0024% das emissões globais de carbono com uma população estimada de quase 20 milhões, enquanto os Emirados Árabes Unidos — com aproximadamente 11,3 milhões de habitantes — emitem 0,57% de todo o carbono do mundo; nada menos do que 237,5 vezes mais que seu companheiro muçulmano (Worldometer, 2025). De acordo com a World Weather Attribution (2023), a emergência climática induzida pela humanidade — ou pelo menos, a parcela mais abastada dela — fez com que as secas se tornassem 100 vezes mais prováveis de ocorrerem. Soma-se a isso o fato de a Somália ocupar, em 2022, o 6° lugar no ranking de países mais vulneráveis a essas crises ambientais — produzido com base na análise de seis setores fundamentais: alimentação, água, serviços ecossistêmicos, habitat humano e infraestrutura — e a 122ª posição na lista de Estados que demonstram maior desenvoltura para se adaptarem aos resultados negativos de tais desequilíbrios, a qual considera três tipos de prontidão: econômica, social e governamental (University of Notre Dame, 2022). Sob essa ótica, fica evidente que aqueles que estão pagando a maior fração da conta dos abusos cometidos contra a Terra são justamente os que menos recursos possuem, o que traduz bem a lógica do racismo ambiental. Tal conceito alude a uma modalidade de racismo sistêmico que atinge desproporcionalmente coletividades marginalizadas e/ou não-brancas por meio de práticas e políticas ambientais degradantes, sejam elas realizadas intencionalmente ou não (Bullard, 2004). O que sobra a essas comunidades, como no caso somali, é a fome, a sede, a violação de sua dignidade, a morte ou a migração. Dessa forma, muitos indivíduos optam por abandonar seus lares e se deslocarem para campos de refugiados em países próximos, como o campo de Dadaab, localizado no Quênia, construído em 1991 para abrigar 90 mil refugiados da guerra civil somali. Atualmente, mais de 300 mil deslocados vivem nesse campo (Zage, 2025), onde grande parte dessa cifra tem como justificativa de seu deslocamento um amálgama de temores associados à violência entre diferentes facções políticas, a fatores socioeconômicos e, principalmente, à destruição suscitada por desastres naturais. Com isso, entende-se que o tema das migrações motivadas pelas mudanças climáticas representa uma questão complexa e multifacetada, profundamente conectada com assuntos securitários e de direitos humanos. Portanto, falar de proteção ambiental também significa falar das mais cruéis desigualdades que permeiam a contemporaneidade — como a econômica, a étnico-racial, a geográfica, a de gênero etc — e de justiça climática. Essa expressão é “frequentemente utilizada para se referir a disparidades em termos de impactos sofridos e responsabilidades no que tange aos efeitos e às causas das mudanças do clima” (Roberts; Parks, 2009 apud Milanez; Fonseca, 2010, p. 96). Logo, é inevitável trazer à discussão a importância de se honrar o princípio das Common But Differentiated Responsibilities (em português, Responsabilidades Comuns Porém Diferenciadas), conhecido também pela sigla CBDR, formalizado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (ECO-92), que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Um importante marco do Direito Internacional Ambiental, ele determina que, a despeito de todos os Estados compartilharem o dever de trabalharem para mitigar as mudanças climáticas e seus efeitos, não se pode ignorar as diferenças existentes entre eles atinentes à participação de cada um no processo de degradação ambiental. Nesse sentido, nota-se que, não obstante os acordos selados por vias multilaterais, os países com menor desenvolvimento relativo ainda se veem desamparados frente às catástrofes climáticas, por conta, especialmente, da falta de comprometimento dos países desenvolvidos em relação à contenção dos impactos de seus estilos de vida sobre a Terra. Considerações finais Em face do exposto, há de se sublinhar que o quadro somali é apenas uma amostra de uma conjuntura mais complexa e delicada. Dessa maneira, é fundamental que haja um movimento de revisão dos mais diversos tratados e documentos internacionais concernentes aos direitos das pessoas em situação de refúgio — como a Convenção de Genebra de 1951, o Protocolo de 1967, a Declaração de Cartagena de 1984 e o Pacto Global sobre Refugiados de 2018 —, de modo que a noção de refugiados ambientais seja colocada à altura das definições das demais classes de refugiados, e, consequentemente, aqueles possam gozar do mesmo reconhecimento jurídico de que estas dispõe. Além disso, a fim de se concretizar um estado de cooperação internacional efetivo dentro do Regime Internacional de Refúgio, o qual deve abranger o diálogo com Organizações Internacionais, Intergovernamentais e Não-Governamentais, é preciso admitir a existência de uma responsabilidade comum entre os Estados de tratar a crise climática e os acometidos por ela, reivindicando, todavia, maiores esforços das nações mais afortunadas e mais poluidoras para mitigar as circunstâncias supracitadas, como preconiza o princípio das CBDR. Entretanto, os entraves para que tal conjectura se torne realidade são muitos e se encontram fortemente relacionados à falta de comprometimento, vontade e interesse dos Estados mais ricos e poluidores em mitigarem as externalidades negativas que seus modos de vida exercem sobre os povos mais vulneráveis a catástrofes climáticas. O caso somali ilustra, dessa maneira, como as assimetrias do sistema internacional contemporâneo e a negligência dos países tidos como mais desenvolvidos continuam a determinar quem possui acesso a proteção, reconhecimento e segurança, e quem permanece à margem desses direitos fundamentais. Tudo isso impede o avanço de mecanismos internacionais capazes de responder de maneira justa e efetiva à emergência climática global e a suas implicações, bem como escancara a hipocrisia presente nos discursos de variadas nações que se dizem alinhadas à luta por justiça, dignidade e equidade, mas pouco fazem para que aqueles que sofrem às suas custas possam verdadeiramente cultivar uma vida menos penosa que a reservada para vítimas de catástrofes ambientais. Referências ACNUR. Internally Displaced Persons (IDPs). Disponível em: https://data.unhcr.org/en/situations/horn/location/192. Acesso em: 15 nov. 2025. ACNUR. No Escape: On the frontlines of climate change, conflict and forced displacement. 2024. Disponível em: https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-11/no-escape-unhcr-climate-report-2024.pdf. Acesso em: 15 nov. 2025. BBC. Somalia famine 'killed 260,000 people'. 2013. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-22380352. Acesso em: 17 nov. 2025. BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo ambiental no século XXI. In: ACSELRAD, Henri; PÁDUA, José Augusto de; HERCULANO, Selene (orgs.). Justiça ambiental e cidadania. São Paulo: Relume Dumará & Fundação Ford, 2004, p. 79. CHAUDHRY, Shazia; OUDA, James. Perspectives on the Rights of Climate Migrants in the Horn of Africa: A Case Study of Somalia. Journal Of Somali Studies. Nairobi, p. 13-40. jun. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352708349_Perspectives_on_the_Rights_of_Climate_Migrants_in_the_Horn_of_Africa_A_Case_Study_of_Somalia. Acesso em: 20 nov. 2025 EL-HINNAWI, Essam. Environmental refugees. Nairobi: UNEP, 1985. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/121267?v=pdf. Acesso em: 18 nov. 2025. GACHUHI, Marion. More than 700,000 people impacted by East Africa floods. 2024. Disponível em: https://africa.cgtn.com/more-than-700000-people-impacted-by-east-africa-floods/. Acesso em: 24 nov. 2025. HASSAN, Yusuf. Conflict and drought force more than 50,000 Somalis to flee to Kenya this year. 2009. Disponível em: https://www.unhcr.org/news/stories/conflict-and-drought-force-more-50000-somalis-flee-kenya-year. Acesso em: 24 nov. 2025. IEP. Over one billion people at threat of being displaced by 2050 due to environmental change, conflict and civil unrest. 2020. Disponível em: https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/09/Ecological-Threat-Register-Press-Release-27.08-FINAL.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025. INSPER. Glossário/Agricultura de Sequeiro. São Paulo: Insper, [2025]. Disponível em: https://agro.insper.edu.br/glossario/agricultura-de-sequeiro. Acesso em: 19 nov. 2025. MILANEZ, B.; FONSECA, I. F. . Justiça climática e eventos climáticos extremos: o caso das enchentes no Brasil. Boletim Regional, Urbano e Ambiental (IPEA), Brasília, p. 93 - 101, 31 jul. 2010. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/fc30c983-c008-4afc-ae6a-d243e563b81d/content. Acesso em: 22 nov. 2025. MISHRA, Vibhu. Somalia faces escalating crisis amid drought, conflict and price hikes. 2025. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2025/02/1160521. Acesso em: 19 nov. 2025. NUPI. Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia. 2021. Disponível em: https://www.sipri.org/publications/2021/partner-publications/climate-peace-and-security-fact-sheet-somalia-2021. Acesso em: 23 nov. 2025 ONU. Constituição (1951). Convenção das Nações Unidas Relativa Ao Estatuto dos Refugiados. Genebra. PACÍFICO, Andrea Pacheco; GAUDÊNCIO, Marina Ribeiro Barboza. A proteção dos deslocados ambientais no regime internacional dos refugiados. Remhu: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, [S.L.], v. 22, n. 43, p. 133-148, dez. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/remhu/a/5TBC5g6FyQX9ZcxYSV3ZHPB/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 22 nov. 2025. PRINSLOO, Karel. Drought in Somalia: Time is Running Out. 2017. Disponível em: https://www.aljazeera.com/gallery/2017/2/20/drought-in-somalia-time-is-running-out/. Acesso em: 17 nov. 2025. UNIVERSITY OF NOTRE DAME. Somalia | ND-GAIN Index. Disponível em: https://gain-new.crc.nd.edu/country/somalia#readiness. Acesso em: 29 nov. 2025. VOA NEWS. UN: One-Third of Somalis Now Displaced. 2011. Disponível em: https://www.voanews.com/a/un-one-third-of-somalis-now-displaced-129883783/158855.html. Acesso em: 21 nov. 2025. WORLDOMETER. CO2 Emissions by Country. Disponível em: https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-by-country/. Acesso em: 22 nov. 2025. WORLD WEATHER ATTRIBUTION. Human-induced climate change increased drought severity in Horn of Africa. 2023. Disponível em: https://www.worldweatherattribution.org/human-induced-climate-change-increased-drought-severity-in-southern-horn-of-africa/. Acesso em: 29 nov. 2025. ZAGE, Zita. Seca na Somália leva milhares de refugiados a buscar abrigo no complexo de Dadaab, no Quênia. 2025. Disponível em: https://pt.globalvoices.org/2025/01/30/seca-na-somalia-leva-milhares-de-refugiados-a-buscar-abrigo-no-complexo-de-dadaab-no-quenia/. Acesso em: 22 nov. 2025.
-
 Destaques
Destaques
MONUSCO: o espelho da desconfiança nas Nações Unidas para resolução de conflitos africanos
Bárbara Luiza Macêdo Gonçalves Em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada na Conferência de São Francisco, que contava com 50 representantes de diferentes países, sendo que somente 4 deles eram países africanos independentes: Egito, Libéria, Etiópia e África do Sul. Enquanto esses se tornavam membros fundadores da ONU, o resto do continente africano estava sob o domínio do colonialismo europeu e não pôde relatar suas perspectivas e interesses (Kumah-Abiwu, 2023). Dessa forma, desde sua fundação, a mais reconhecida organização multilateral marginalizou a perspectiva africana ao pensar a nova ordem mundial. Até hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) — responsável por estabelecer as missões de paz da ONU — mantém a mesma estrutura: cinco membros permanentes e dez rotativos, estes últimos com mandatos de dois anos e sem direito de veto. Os países africanos ocupam, de forma contínua, duas dessas cadeiras rotativas. É interessante destacar que, apesar da baixa representatividade na composição do Conselho, os Capacetes Azuis — o contingente militar das missões de paz — somam cerca de 60 mil integrantes, majoritariamente provenientes de países africanos e asiáticos (Nações Unidas, s.d. b). Historicamente, o continente africano passa por uma constante marginalização. Para Penna (2004), o desinteresse “por tudo que diz respeito à África” aumentou com o avanço da globalização. Nessa conjuntura, esta análise busca discutir como a Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO, em francês) revela os limites atuais das operações de paz da ONU e reforça a urgência de reestruturar seu sistema multilateral de segurança, sobretudo para lidar com conflitos africanos. O conflito da RDC e o papel do M23 na instabilidade congolesa A região leste da República Democrática do Congo (RDC) é cenário de conflitos intensos desde 1996, quando a região passou a receber quase dois milhões de refugiados hutus que fugiam do genocídio de Ruanda. Entre eles, haviam grupos extremistas que formaram milícias armadas nos Kivus (Norte e Sul), desestabilizando ainda mais a área. Em reação, milícias tutsis também se organizaram e a disputa entre grupos armados rivais rapidamente se internacionalizou, com países vizinhos apoiando diferentes facções. Esse ambiente explosivo desencadeou a Primeira Guerra do Congo (1996–1997) e alimentou ciclos contínuos de violência no leste do país, que já causaram cerca de seis milhões de mortes desde então (Council on Foreign Relations, 2025). Os conflitos étnicos de Ruanda seguiram impactando a segurança da região, evoluindo para a Segunda Guerra do Congo (1998–2002) após as forças ruandesas invadirem a região congolesa a fim de erradicar as milícias hutus refugiadas. Laurent Kabila, presidente da RDC, foi morto após uma tentativa de golpe de Estado em 2001 e seu filho, Joseph Kabila, assumiu o poder. Foi no governo deste último que a Segunda Guerra chegou oficialmente ao fim, com a formulação de acordos de paz entre Ruanda, RDC e Uganda (que anteriormente apoiava a invasão). No entanto, fatores como a ausência de controle estatal, a presença de milícias hutus, a atuação de grupos locais e a intervenção de países vizinhos mantiveram a região em permanente conflito apesar do cessar-fogo declarado. Nos anos 2000, o Movimento 23 de Março (M23), composto majoritariamente por tutsis, emergiu como novo ator central no leste. Entre 2012 e 2013, o M23 tornou-se uma força militar dominante, e a RDC acusou Ruanda de apoiá-lo — fator que reacendeu tensões interestatais (Council on Foreign Relations, 2025). O M23 é o principal agrupamento paramilitar da RDC, onde existem mais de 250 grupos armados locais e 14 milícias estrangeiras atuantes no leste do país (Hairsine, 2024). Desde o início de 2025, suas ofensivas contra as FARDC têm se intensificado e, segundo a MONUSCO, mais de 1000 civis foram mortos em Ituri e Kivu do Norte apenas entre junho e novembro (GlobalR2P, 2025). A presença intensa desses atores acarreta outras consequências para a população congolesa, como o aumento da violência sexual relacionada ao conflito, tortura e o deslocamento forçado intenso na região. Tais efeitos demonstram que, apesar da presença das Nações Unidas no país, existe uma significativa falha na proteção de vulneráveis — sobretudo mulheres e crianças — na República Democrática do Congo. Atuação da MONUSCO e suas controvérsias Em julho de 2010, a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUC, em francês) foi renomeada para MONUSCO, tendo em vista a nova fase da RDC (Nações Unidas, s.d. c). Segundo a ONU, a missão possui autorização para empregar “todos os meios necessários” no cumprimento de seu mandato, com o objetivo de proteger civis, agentes humanitários e defensores dos direitos humanos que se encontrem sob ameaça iminente de violência física. A missão ainda trabalha com as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC), a medida que apoia o governo da RDC em seus esforços de estabilização e consolidação da paz. É válido salientar que o princípio de não-intervenção, destacado na Carta das Nações Unidas, é um dos exemplos de como as atividades da ONU são limitadas no campo das missões de paz do organismo. Isso não significa que o princípio seja negativo, já que é essencial para respeitar a soberania e independência dos Estados. No entanto, essa premissa tem sido contestada nos últimos tempos, já que não é possível defini-la de maneira clara (Wood, 2025). Devido a isso, o limite das ações da MONUSCO para empregar suas medidas se torna nebuloso. Atualmente, a MONUSCO é a terceira missão com maior número de contribuintes de tropas e policiais da ONU, tendo mais de 16 mil integrantes uniformizados ativos no país em maio de 2025 (Nações Unidas, 2025). Entretanto, é importante ressaltar que o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, pressionou anteriormente a retirada completa da MONUSCO até o final de 2024, o que para Nantulya (2024) é incoerente visto que mais de 80% dos 7 milhões de cidadãos congoleses deslocados vivem em áreas protegidas pela missão da ONU. Outro exemplo de panorama negativo sobre a MONUSCO ocorreu em 2023, em que Coulibaly (2023) considerou a operação conjunta MONUSCO-FARDC SPRINGBOK como problemática e um desrespeito à ONU. A operação SPRINGBOK teve como finalidade impedir o avanço do M23 em Goma e defender os civis. O problema dessa colaboração, para Coulibaly, é que a coalizão do governo da RDC é composta por “forças negativas” — como exemplo, grupos armados integrados (incluindo as Forças Democráticas de Libertação de Ruanda — FDLR), a coalizão rebelde Wazalendo, mercenários europeus e o exército de Burundi. Isso evidencia uma significativa negligência por parte da MONUSCO em relação às convenções e resoluções internacionais da própria organização, às vidas da população civil congolesa e à estabilidade da segurança regional. A necessidade de reavaliação da missão é discutida em anos anteriores ao pedido de Tshisekedi. Ilunga (2019) recorda que o antigo presidente da RDC, Joseph Kabila, fazia o mesmo rogo, já que via a MONUSCO como uma infração à soberania (uma violação do princípio de não-intervenção). Ele ainda comenta que é indispensável a reconfiguração para o alinhamento com as novas ameaças do leste congolês, elencando como proposta o reforço de tropas, adaptação estratégica e melhor coordenação entre ONU, União Africana, organizações regionais e países próximos. Ilunga elucida ainda a importância da missão não apenas focar na atualização de equipamento militar e no treinamento das tropas, mas também na alteração da percepção local sobre si. Isso pode ser feito a partir do apoio à igreja, à sociedade civil e às iniciativas jovens, assim como ao valorizar práticas locais e a economia informal como ferramentas para estabilidade. Essa proposta demonstra o valor vital na participação e visibilidade do povo congolês para solucionar o seu conflito, visto que a desconfiança da eficácia de qualquer mediação e ação dentro de seu território dificulta o seguimento do mandato da MONUSCO. Estados africanos, missões de paz e desejo de mudança Atualmente, o continente africano possui a maior quantidade de operações de manutenção da paz ativas da ONU, dentre as 13 operações ativas, 7 são realizadas no continente africano (Nações Unidas, s.d. a). Devido à grande presença da organização, a estabilidade do continente e as medidas relacionadas aos conflitos em progresso podem ser analisadas visando compreender a situação do multilateralismo na segurança internacional. Considerando esse fator e sua grande contribuição para o corpo dos Capacetes Azuis, os Estados africanos se posicionam há 20 anos pedindo uma reforma do CSNU. Em 2005, foi adotado, durante a 22ª Sessão Extraordinária do Conselho Executivo da União Africana, o Consenso de Ezulwini. Nele, foram elencados pontos essenciais de mudança exigidos pelo grupo de líderes africanos, como o aumento da participação africana mediante a expansão do CSNU e a representação plena da África nos órgãos decisórios da ONU, em especial o Conselho (Eguegu et al, 2024). A reforma do órgão é constantemente sugerida por distintos grupos e até representantes da ONU reconhecem sua necessidade. Em 2023, o então presidente da Assembleia Geral da ONU, Dennis Francis, expôs que sem a reforma estrutural do Conselho, sua eficácia e legitimidade se tornarão cada vez mais comprometidas. Nesse mesmo viés, o G4, formado pelo Brasil, Alemanha, Índia e Japão, em 2024 apresentou uma proposta de mudança que consistia na expansão do Conselho para 25 membros, em que 4 seriam rotativos e outros 6 fossem acrescentados aos permanentes (Eguegu et al, 2024). Dessarte, a recusa de reforma do CSNU demonstra a falta de representatividade e equidade na estrutura decisória da ONU, prejudicando o progresso e diversificação na formulação das missões de paz. Em reflexo ao descontentamento em relação ao Conselho, foram estabelecidas alternativas regionais para lidar com missões de paz. Um exemplo disso é a Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na República Democrática do Congo (SAMIDRC, em inglês). A SAMIDRC foi instaurada em dezembro de 2023 após um convite do presidente da RDC, Félix Tshisekedi, conforme o Pacto da Defesa Mútua da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, em inglês) (Dzinesa; Rusero, 2025). O pedido realizado por Tshisekedi elucida a falta de convicção na capacidade exclusiva da ONU lidar com a instabilidade do cenário atual da RDC e do processo de restauração da paz no país. A SAMIDRC foi encerrada em março de 2025, após diversos fatores políticos e militares, como a falta de coesão interna da SADC e a capacidade militar limitada (Handy, 2025). A (in)eficácia da ONU em África e possíveis desdobramentos da reforma O papel da ONU sofreu mudanças. Sua capacidade de mediação de conflitos, por exemplo, assumiu uma posição de apoio, em vez de uma configuração de liderança (Gowan, 2023). Essa modificação demonstra como a cooperação multilateral carece de atualizações, visto que é persistente a dificuldade de enfrentar de maneira definitiva os conflitos contemporâneos e a fragmentação cada vez maior da confiança em soluções de organismos internacionais. Alemu (2024) discorre sobre como a solicitação africana de reforma do CSNU reflete na efetividade das decisões do Conselho nos conflitos do continente. Tendo em vista a aprovação de soluções regionais como a SAMIDRC, a presença de Estados africanos como membros permanentes do Conselho culminaria em propostas mais efetivas para a resolução de conflitos e tensões na região. Como foco analítico, a guerra da RDC passou recentemente por um período de intensificação de combates que deteriorou cada vez mais a região dos Grandes Lagos, necessitando de outras ações multilaterais a fim de redigir um acordo de paz. Em especial, é possível destacar o acordo de paz assinado, em junho de 2025 em Washington, mediado pelos EUA, por representantes da RDC e de Ruanda (Estados Unidos da América, 2025) — acusada de apoiar o grupo rebelde M23. Ademais, cabe mencionar o mais recente desdobramento das negociações em Doha, interpostas por Catar e EUA, isto é, o desenvolvimento do acordo de cessar-fogo entre o governo da RDC e a M23 em 15 de novembro de 2025, que espera ser finalizado nas próximas semanas (Al Jazeera, 2025). Apesar desses processos, o leste da RDC segue em extrema violência, o que elucida a ineficácia do acordo de paz e o desrespeito às mediações multilaterais por todos os beligerantes. A queda do financiamento e os resultados da MONUSCO Ao longo dos últimos anos, o contingente humano da ONU no continente africano tem diminuído e o anúncio da retirada dos últimos soldados da MONUSCO programada para o final de 2024, colocou em perspectiva a taxa de sucesso da missão. Apesar da presença da MONUSCO ter evitado um escalonamento da situação, ainda existem grupos armados para além do grupo rebelde M23 que ameaçam a segurança regional (Anyadike, 2024). A diminuição dos contingentes em missões de paz tem como uma de suas causas a queda de financiamento que a ONU recebe dos Estados-membros. Missões como a MONUSCO dependem de tal para desenvolver seu mandato, portanto, fatores internos das relações de membros permanentes do CSNU impactam diretamente em sua estrutura. Um exemplo desta realidade é a decisão dos EUA, a qual o presidente Donald Trump – em seu primeiro mandato – recusou-se a pagar a contribuição de 28% avaliada pela ONU para o orçamento de manutenção da paz e se contentou com 25%, que seguiu em governos posteriores. Para Anyadike (2024), esse fato causou uma pressão financeira no CSNU e, por consequência, a eficácia de grandes missões de paz passou a ser mais contestada. Tal questão financeira, combinada ainda com a indignação de Estados africanos na falta de representatividade do processo decisório da ONU, impede que a organização possa seguir sendo a protagonista do multilateralismo na segurança internacional, principalmente no escopo africano. A MONUSCO não foi oficialmente encerrada, mesmo com os apelos do governo da RDC para que isso ocorresse. Contudo, mesmo com a descrença no multilateralismo da ONU, é notável que a retirada gradual da MONUSCO do leste da RDC culminou no aumento da violência na região (Forti; Gowan, 2025) e a manter o país unificado como um Estado integrado (Nantulya, 2024). Todavia, isso não impede o grande deslocamento forçado que sua população enfrenta ou de episódios de extrema violência como os ataques entre 9 a 21 de julho de 2025, em que pelo menos 319 civis foram assassinados por rebeldes do M23 (Mishra, 2025). O que não pode ser esquecido é o fato de que a presença da ONU a mais de 20 anos (desde MONUC até MONUSCO) no território congolês não fez com que os acordos de cessar-fogo prevalecessem e o conflito fosse encerrado. Portanto, é essencial que seja revisada a estrutura das operações de paz tradicionais e a colaboração da ONU com outras organizações internacionais nas missões que buscam estabilizar os conflitos no continente africano. Conclusão A trajetória da MONUSCO evidencia não apenas as limitações operacionais de uma missão de paz, mas também a fragilidade estrutural de um sistema multilateral que insiste em preservar regras ultrapassadas para enfrentar conflitos cada vez mais complexos. A persistência da violência no leste da RDC demonstra que a ONU não tem conseguido responder às necessidades reais das populações afetadas, nem harmonizar as agendas políticas de seus próprios membros permanentes. Não há, de fato, qualquer movimento concreto de reestruturação da ONU ou do CSNU, apesar de repetidos apelos. Isso reforça a percepção de que a organização mantém uma hierarquia implícita, na qual alguns Estados têm voz e poder desproporcionais. A descrença na atuação onusiana se aprofunda diante da insistência dos membros permanentes em preservar prerrogativas e privilégios exclusivos, enquanto países diretamente afetados pelos conflitos buscam alternativas regionais que atacam a centralidade da ONU. Portanto, a instabilidade institucional tende a se agravar e corroer ainda mais a credibilidade da organização. O caso da MONUSCO deixa claro que, sem uma reforma estrutural profunda — que inclua o continente africano como protagonista nas decisões que os envolvem e atualize o modelo de operações de paz — a ONU continuará acumulando missões longas e ineficazes. Por isso, é essencial que tal mudança ocorra: somente uma reorganização profunda permitirá recuperar a legitimidade da ONU e sua capacidade de agir com responsabilidade onde a violência é mais intensa e a desigualdade mais profunda. Referências bibliográficas ALEMU, T. Advancing the African position on the reform of the Security Council. Amani Africa, 28 fev. 2024. Disponível em: https://amaniafrica-et.org/advancing-the-african-position-on-the-reform-of-the-security-council/. Acesso em: 6 abr. 2025. AL JAZEERA. DRC, Rwanda-backed M23 sign framework deal for peace after talks in Qatar. Al Jazeera, 15 nov. 2025. Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2025/11/15/drc-rwanda-backed-m23-sign-framework-deal-for-peace-after-talks-in-qatar. Acesso em: 15 nov. 2025. ANYADIKE, O. The changing face of peacekeeping: what’s gone wrong with the UN? The New Humanitarian, 9 jul. 2024. Disponível em: https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2024/07/09/changing-face-peacekeeping-whats-gone-wrong-un. Acesso em: 6 abr. 2025. COULIBALY, B. Operation SPRINGBOK: MONUSCO’s contempt for its peacekeeping mandate. Pan African Review, 2023. Disponível em: https://panafricanreview.com/operation-springbok-monuscos-contempt-for-its-peacekeeping-mandate/. Acesso em: 20 ago. 2025. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. Violence in the Democratic Republic of the Congo. Center for Preventive Action, 9 jun. 2025. Disponível em: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-democratic-republic-congo. Acesso em: 29 nov. 2025. DZINESA, G.; RUSERO, A. Another regional intervention falls short in the Democratic Republic of the Congo. IPI Global Observatory, 31 mar. 2025. Disponível em: https://theglobalobservatory.org/2025/03/another-regional-intervention-falls-short-in-the-democratic-republic-of-the-congo/. Acesso em: 6 abr. 2025. EGUEGU, O.; RYDER, H.; LWERE, T. Africa’s design for a reformed UN Security Council. Center for Strategic and International Studies, 1 out. 2024. Disponível em: https://www.csis.org/analysis/africas-design-reformed-un-security-council. Acesso em: 5 abr. 2025. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Bureau of African Affairs. Peace Agreement Between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. U.S. Department of State, 27 jun. 2025. Disponível em: https://www.state.gov/peace-agreement-between-the-democratic-republic-of-the-congo-and-the-republic-of-rwanda. Acesso em: 14 nov. 2025. FORTI, F.; GOWAN, R. Fresh thinking about peace operations at the UN. International Crisis Group, 23 jan. 2025. Disponível em: https://www.crisisgroup.org/global/fresh-thinking-about-peace-operations-un. Acesso em: 6 abr. 2025. GLOBALR2P. Democratic Republic of the Congo. Global Centre for the Responsibility to Protect, 14 nov. 2025. Disponível em: https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of-the-congo/. Acesso em: 14 nov. 2025. GOWAN, R. What’s new about the UN’s new agenda for peace? International Crisis Group, 16 nov. 2023. Disponível em: https://www.crisisgroup.org/global/whats-new-about-uns-new-agenda-peace. Acesso em: 6 abr. 2025. HAIRSINE, K. Quem é quem no conflito na RDC. Deutsche Welle, 22 fev. 2024. Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/quem-%C3%A9-quem-no-conflito-na-rdc/a-68336372. Acesso em: 15 nov. 2025. HANDY, P. Anatomy of SADC’s failure in eastern DRC. ISS Today, 20 mar. 2025. Disponível em: https://issafrica.org/iss-today/anatomy-of-sadc-s-failure-in-eastern-drc. Acesso em: 29 nov. 2025. ILUNGA, Y. Y. After strategic review, what should be done with MONUSCO? The Global Observatory, 24 jun. 2019. Disponível em: https://theglobalobservatory.org/2019/06/after-strategic-review-what-should-be-done-monusco/. Acesso em: 23 ago. 2025. KUMAH-ABIWU, F. Africa’s search for permanent seats on the UN Security Council: a matter of justice and democratic rights. On Policy, 23 jan. 2023. Disponível em: https://onpolicy.org/africas-search-for-permanent-seats-on-the-un-security-council-a-matter-of-justice-and-democratic-rights/. Acesso em: 4 abr. 2025. MISHRA, V. Armed militia kill hundreds in eastern DR Congo. UN News, 06 ago. 2025. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2025/08/1165586. Acesso em: 19 ago. 2025. NAÇÕES UNIDAS. África. Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental das Nações Unidas, sem data. Disponível em: https://unric.org/pt/africa/. Acesso em: 4 abr. 2025. NAÇÕES UNIDAS. Military. United Nations Peacekeeping, sem data. Disponível em: https://peacekeeping.un.org/en/military. Acesso em: 5 abr. 2025. NAÇÕES UNIDAS. MONUSCO. United Nations Peacekeeping, sem data. Disponível em: https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco. Acesso em: 19 ago. 2025. NAÇÕES UNIDAS. Troop and police contributors. United Nations Peacekeeping, maio de 2025. Disponível em: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors. Acesso em: 22 ago. 2025. NANTULYA, P. Understanding the Democratic Republic of the Congo’s Push for MONUSCO’s Departure. Africa Center for Strategic Studies, 2024. Disponível em: https://africacenter.org/spotlight/understanding-drc-monusco/. Acesso em: 19 ago. 2025. PENNA FILHO, P. Segurança seletiva no pós-Guerra Fria: uma análise da política e dos instrumentos de segurança das Nações Unidas para os países periféricos - o caso africano. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 47, n. 1, p. 1-22, 2004. WOOD, M. Non-Intervention (Non-interference in domestic affairs). The Princeton Encyclopedia of Self-Determination, Princeton, 2012. Disponível em: https://pesd.princeton.edu/node/551. Acesso em: 27 jan. 2025.
-
 Destaques
Destaques
A Nova Rota da Seda e a reconfiguração da ordem global
Juliana Jaegger A reunião de 1978 do Partido Comunista Chinês, conhecida como Terceira Plenária do 11º Comitê Central, marcou uma mudança significativa na política do país. Essa reunião estabeleceu as bases para a política de Reforma e Abertura, uma revisão da estratégia de “modernização socialista” (Kissinger, 2011) que visava corrigir os problemas da China na época. As reformas buscavam resolver o atraso econômico, a instabilidade política e o isolamento internacional do país (Pautasso, 2011, p. 168). Esse processo inaugura a lógica que sustenta a atual política externa chinesa, desenvolvimento econômico como pré-condição para estabilidade interna e legitimidade política. No século XXI, a Ásia se tornou um dos principais motores da economia mundial (Arrighi, 2008), respondendo por quase 1/3 do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (World Bank Database, 2017). Dentro desse cenário, o crescimento econômico da China se destaca. As reformas iniciadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70 impulsionaram um período de 30 anos de crescimento acelerado, com uma média de 10% ao ano, e resultaram na saída de 500 milhões de pessoas da linha de pobreza (Banco Mundial, 2013, p. 23). A rápida expansão econômica da China e sua crescente influência internacional tornam essencial a realização de análises críticas de suas estratégias. Desse modo, o crescimento não pode ser compreendido apenas como fenômeno econômico, mas como fundamento da capacidade chinesa de projetar poder e reconfigurar relações internacionais. A análise enfatiza a BRI como instrumento de projeção de poder chinês e examina as reações internacionais diante dessa expansão, especialmente no contexto pós-pandemia. A iniciativa opera como vetor de influência geoeconômica, pois reorganiza fluxos de infraestrutura, financiamento e comércio. Com sua ampliação recente, a China busca ocupar posição mais central na ordem internacional, ampliando sua capacidade de moldar agendas econômicas e estratégicas em diferentes regiões. O papel estratégico da Nova Rota da Seda Nesse contexto de expansão econômica sustentada, a BRI surge como instrumento para projetar tal crescimento para fora do país, aprofundando a conectividade econômica, sendo assim a integração de mercados, infraestrutura e fluxos financeiros sob coordenação chinesa. Essa integração não é neutra, ela tende a reposicionar a China como pólo estruturador das cadeias de infraestrutura e financiamento, deslocando gradualmente o centro decisório global. Por meio de investimentos massivos em infraestrutura — incluindo portos, ferrovias, rodovias, oleodutos e redes de internet — e no fomento ao comércio, a China busca fortalecer seus laços com diversos continentes, com foco principal na Ásia, África, Europa e, mais recentemente, na América Latina. A BRI abrange objetivos de curto, médio e longo prazo, visando remodelar o cenário global. À curto prazo, a iniciativa impulsiona as exportações chinesas e a internacionalização de suas empresas. À médio prazo, busca fortalecer a integração da Eurásia, consolidando a China como potência central. À longo prazo, a BRI apresenta um modelo alternativo de globalização, desafiando a ordem neoliberal liderada pelos Estados Unidos (Pautasso; Ungaretti, 2017). Isso evidencia que a BRI funciona não apenas como política externa, mas como proposta concorrencial de ordenamento econômico global. A intensificação da diplomacia bilateral não é um fenômeno isolado, mas parte de uma estratégia que prepara o terreno político para a expansão da BRI (Shambaugh, 2013). Assim, a diplomacia bilateral aparece como ferramenta que reduz custos políticos da expansão da BRI e maximiza a capacidade chinesa de negociar condições preferenciais diretamente com cada país. Essa abordagem busca remodelar a posição do país em um sistema internacional em constante transformação. A reformulação do cenário econômico global (Arrighi, 2008), especialmente após a crise financeira de 2008, exigiu uma participação mais ativa da China em organizações internacionais e regionais, aumentando suas responsabilidades multilaterais (Jiemian, 2015, p. 5). A Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), popularmente conhecida como Nova Rota da Seda, é uma estratégia multifacetada que combina objetivos econômicos e geopolíticos, com o propósito central de garantir a estabilidade política interna da China. Para o governo centralizado chinês, a manutenção do crescimento e desenvolvimento econômico é fundamental para a legitimidade do Partido Comunista Chinês e, consequentemente, para a preservação da estrutura política do país (Beeson; Li, 2016). O vínculo entre desempenho econômico e legitimidade explica por que a BRI é tratada pelo governo como política de Estado, e não apenas como iniciativa externa. Nesse sentido, a BRI desempenha um papel crucial na sustentação do modelo político chinês, ao impulsionar o crescimento econômico e expandir a influência global da China. No entanto, a trajetória da China no cenário global dependerá tanto da reação das potências ocidentais quanto da capacidade do país de manter seu ritmo de desenvolvimento. Como enfatizam os autores, a estabilidade política interna, que sustenta o governo chinês, está intrinsecamente ligada ao sucesso econômico e à forma como a China interage com o resto do mundo. A centralidade da Eurásia é particularmente relevante para a BRI, já que a iniciativa prioriza a construção de corredores terrestres e marítimos que atravessam exatamente essa região, considerada pelo governo chinês como eixo estratégico para consolidar sua projeção econômica e geopolítica. Nessa estrutura, a expansão da BRI na Eurásia reflete a intenção chinesa de disputar espaços historicamente associados à influência russa e ocidental. A ideia clássica da teoria do “Heartland” de Halford Mackinder (2011), segundo a qual quem controla o interior da Eurásia controla os fluxos globais, ajuda a explicar por que a BRI prioriza corredores terrestres e energéticos nesta região. Com isso, a diversificação de fornecedores de alimentos, petróleo, gás natural e minerais estratégicos tornou-se prioridade nas diretrizes oficiais de política externa e energética da China (National Development and Reform Commission, 2015), refletindo a necessidade de sustentar padrões elevados de crescimento e reduzir vulnerabilidades externas. A BRI emerge com o potencial de reconfigurar o equilíbrio de poder na Eurásia. Contudo, a influência chinesa não se limita ao espaço eurasiático. A BRI tem produzido efeitos crescentes na América Latina, região incluída progressivamente no escopo da iniciativa a partir de 2017. Estudos indicam que a China utiliza acordos de infraestrutura, financiamento e comércio para fortalecer vínculos políticos e econômicos com países latino-americanos (Ribeiro; Cunha, 2024), ampliando sua presença em setores estratégicos como energia, portos e telecomunicações. A entrada chinesa em setores de infraestrutura latino-americanos alterou os equilíbrios tradicionais, antes dominados por EUA, BID e bancos ocidentais, indicando deslocamento gradual das referências de desenvolvimento na região (Ji, 2015; Sarvári; Szeidovicz, 2016). Como colocado pelos autores, essa expansão para além da Eurásia evidencia que a BRI opera como um instrumento de projeção de poder chinês, permitindo à China ampliar sua capacidade de influência política, moldar padrões de financiamento e redefinir posições estratégicas em regiões tradicionalmente fora de sua esfera de alcance. Ascensão chinesa e a BRI: desafios e implicações para a governança global A busca da China por acesso a hidrocarbonetos é uma estratégia fundamental para fortalecer sua base de poder e recursos, dado que o país tornou-se o maior importador mundial de petróleo em 2017 (U.S. Energy Information, 2018). Desse ângulo, a BRI funciona como mecanismo para mitigar vulnerabilidades energéticas, ao mesmo tempo em que cria dependência logística reversa nos países exportadores. Essa dependência crescente reforça a centralidade da energia na estratégia externa chinesa, pois a competição por recursos energéticos desempenha um papel crucial na geopolítica, influenciando diretamente a capacidade de um Estado de garantir sua sobrevivência e expandir sua influência. Ao exportar padrões tecnológicos, financiar infraestrutura e ampliar presença empresarial, a China utiliza a BRI para estruturar dependências materiais que reforçam sua capacidade de moldar preferências e decisões em países parceiros. A energia é um fator determinante na distribuição de poder global, pois impacta a capacidade de um país de gerar riqueza, de investir em suas forças armadas e de desenvolver sua indústria. Portanto, a busca chinesa por segurança energética integra sua estratégia mais ampla de consolidação de poder no sistema internacional. Coerente com sua estratégia de longo prazo, a China lidera a transição energética global e domina aproximadamente 55% da produção mundial de painéis solares (Pouille; Thibault, 2025). Em paralelo, Beijing exerce controle estratégico sobre a cadeia de produção de terras raras, com mais de 80% da cadeia global sob sua hegemonia, o que lhe confere vantagem tecnológica e geopolítica na fabricação de baterias, veículos elétricos e turbinas eólicas (Heide, 2023). Esses elementos, por sua vez, formam a base de recursos que pode ser convertida em influência internacional, dependendo das estratégias e ações adotadas pelo Estado (Steeves; Ouriques, 2016). O domínio chinês em tecnologias e minerais críticos reforça os objetivos da BRI, que busca garantir rotas logísticas seguras e estáveis para manter essa posição. Nesse contexto, a ascensão chinesa não ocorre de forma isolada, mas em constante interação com as estratégias de outras grandes potências. Os Estados Unidos mantêm superioridade militar e tecnológica em setores sensíveis, como semicondutores avançados, sistemas de defesa e infraestrutura digital, e têm intensificado políticas de contenção por meio de controles de exportação, restrições a investimentos chineses e fortalecimento de alianças no Indo-Pacífico (United States, 2022). Por sua vez, a União Europeia busca reduzir vulnerabilidades estruturais decorrentes de sua dependência de minerais críticos e insumos estratégicos, priorizando a redução de dependências externas (sobretudo da China) por meio de estímulos à mineração doméstica, diversificação de fornecedores e criação de metas obrigatórias como o EU Critical Raw Materials Act (European Commission, 2023). Esse movimento revela como a BRI funciona como um instrumento de projeção de poder chinês, ao transformar investimentos econômicos em influência política e capacidade de moldar agendas de desenvolvimento nos países parceiros. A competição em torno de minerais e tecnologias críticas sinaliza que a disputa não é apenas comercial, mas estrutural, envolvendo modelos distintos de financiamento, segurança e desenvolvimento. Além disso, os países do Sul Global tentam ampliar suas margens de autonomia, negociando com a China de forma pragmática enquanto ponderam riscos de dependência assimétrica diante da competição sino-americana (European Parliament, 2025). As políticas de contenção dos EUA e de reindustrialização da UE funcionam como contrapesos à BRI, limitando sua expansão em setores estratégicos. Essa interação tensionada compõe uma correlação de forças fluida, na qual a expansão da BRI é simultaneamente facilitada e limitada pelas respostas estratégicas das demais potências. A ideia de que os Estados vizinhos, ao buscarem os benefícios econômicos da BRI, estariam implicitamente concordando em não confrontar os interesses chineses, levanta preocupações sobre a soberania e a autonomia desses países. A BRI, embora apresentada como uma iniciativa de cooperação mútua, pode ser vista como uma ferramenta para a China expandir sua influência geopolítica e garantir o acesso a recursos naturais estratégicos. No entanto, autores como Womack (2016), Lee (2020) e de Paiva (2022) sugerem que, ao promover interdependência econômica, acordos multilaterais podem assumir uma vertente assimétrica, permitindo a um Estado exercer influência decisiva sobre outro, processo semelhante às práticas de hegemonia já identificadas nos Estados Unidos no século XX. Pires e Paulino (2017) destacam a relevância política e estratégica do BRI, enfatizando a necessidade de ações concretas para além do discurso. Os autores ressaltam que a China adota uma perspectiva de longo prazo para o sucesso da iniciativa, buscando criar interdependência e aproximação entre os países envolvidos por meio da construção de infraestrutura e da liberalização dos fluxos de mercadorias e capitais. Apesar das críticas dos Estados Unidos à BRI, o governo americano criou uma entidade semelhante, a Development Finance Corporation (DFC), para competir com a iniciativa chinesa. Esse movimento evidencia a crescente importância da BRI no cenário global e o reconhecimento de seu potencial impacto. Ademais, as crises globais recentes, como a pandemia, a guerra na Ucrânia e o conflito na Palestina, expuseram fragilidades estruturais da governança internacional e reforçaram a necessidade de mecanismos alternativos de coordenação global. Nesse contexto, a BRI foi diretamente afetada: interrupções logísticas, choques energéticos e incertezas geopolíticas levaram a China a complementar a iniciativa com novos instrumentos diplomáticos, como a Global Development Initiative (GDI), a Global Security Initiative (GSI) e a Global Civilization Initiative (GCI) (European Union Institute, 2023) apresentados oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores da China em documentos de 2022 e 2023. Essas três iniciativas funcionam como pilares discursivos e normativos que procuram responder aos desafios que limitaram a expansão da BRI durante esse período, oferecendo uma narrativa de estabilidade, segurança e cooperação em contraponto ao protecionismo e ao unilateralismo associados aos Estados Unidos. Assim, mais do que iniciativas paralelas, GDI, GSI e GCI operam como extensão política da BRI, reforçando a tentativa chinesa de consolidar sua posição como ator central na reconfiguração da ordem internacional. Dessa forma, esses eixos diplomáticos complementam a BRI ao oferecer narrativas que legitimam a presença chinesa em espaços onde o Ocidente enfrenta crescente contestação. Enquanto o cenário internacional se caracteriza por um movimento de proteção e restrição ao investimento estrangeiro por parte dos países ocidentais, a China adota uma postura contrastante. O país se destaca como um dos poucos a promover ativamente a abertura de seu mercado por meio de eventos de grande porte voltados para a importação. Essa dissonância estratégica reforça a tentativa chinesa de se apresentar como alternativa ao protecionismo ocidental, fortalecendo a BRI como porta de entrada para mercados emergentes. Como a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), organizada desde 2018 pelo Ministry of Commerce of the PRC, ilustra o esforço chinês de sinalizar abertura comercial em um contexto de crescente protecionismo ocidental. Segundo o relatório oficial da edição de 2023, o evento movimentou mais de US$78 bilhões em acordos comerciais, reforçando a tentativa chinesa de atrair parceiros externos e ampliar sua inserção global (China International Import Expo, 2023). A China busca atrair parceiros internacionais e impulsionar o fluxo de mercadorias e capitais, fortalecendo sua posição na economia global. Considerações finais A análise apresentada buscou examinar as condições em que a expansão da Nova Rota da Seda (BRI) reflete e impacta a transição do poder geopolítico, com foco no papel da China com potencial global. Ao longo do texto, foram explorados os objetivos estratégicos da iniciativa, seus impactos econômicos e geopolíticos, e as respostas globais à ascensão da China. A ordem global está, de fato, em um processo de transformação significativa. A ascensão da China, impulsionada pelas reformas de abertura e pela BRI, desafia a hegemonia dos Estados Unidos e estimula a formação de um sistema internacional progressivamente multipolar. A BRI pode ser vista tanto como causa quanto como sintoma dessa mudança. Ademais, é possível identificar dois cenários possíveis para o papel da China nos próximos anos. Um primeiro cenário aponta para a consolidação da liderança chinesa, sobretudo se a BRI mantiver capacidade financeira e ampliar sua presença em setores estratégicos como energia e minerais críticos, domínios nos quais o país já ocupa posição dominante. Um segundo cenário sugere o aprofundamento da competição sistêmica com os Estados Unidos, marcado pela securitização de tecnologias sensíveis, pela disputa por cadeias logísticas e pela tendência de fragmentação produtiva global. Embora esses caminhos coexistam, os sinais atuais indicam maior probabilidade de avanço de uma ordem multipolar, na qual a China converte seus recursos materiais em instrumentos de influência geoeconômica, ainda que enfrentando resistência crescente das potências ocidentais. A trajetória em direção a esse equilíbrio multipolar permanece complexa e incerta. Ainda que a China busque consolidar sua posição como eixo central da reconfiguração da ordem internacional, enfrenta desafios como a competição por energia, a necessidade de garantir acesso a recursos estratégicos e a pressão por manter taxas de crescimento compatíveis com sua ambição global. A BRI representa uma oportunidade e um risco: promove desenvolvimento e integração regional, mas também expõe tensões políticas, dependências financeiras e disputas por influência. A forma como a China e os países participantes lidarem com esses desafios e riscos determinará o sucesso da BRI e o futuro da ordem global. Referências bibliográficas: ARRIGHI, G. Adam Smith em Pequim. Origens e fundamentos do Século XXI. Editora Boitempo, São Paulo, 2008. BANCO MUNDIAL. China 2030: building a modern, harmonious, and creative society. Washington DC: The World Bank And The Development Research Center Of The State Council, 2013. BANCO MUNDIAL. World Bank Foreign Investment Database. Disponível em: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD. Acesso em 5 de abril de 2025. BEESON, M; LI, F. China's Place in a Regional and World Governance. The University of Durham and John Wiley and Sons, Global Policy Review, 2016. CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO. China's import expo yields record-breaking deals, boosts global economy. CIEE, 13 nov. 2023. Disponível em: https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/news/20231113/41836.html . Acesso em: 12 nov. 2025. CHINA. National Development and Reform Commission; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Commerce. Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Beijing: The State Council, 28 mar. 2015. Disponível em:https://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/17/content_281475073048566.htm. Acesso em: 12 nov. 2025. DE FREITAS, V; PIRES, M. As iniciativas globais da China, o Sul Global e a remodelação da ordem internacional. Revista de Geopolítica, v. 15, n. 5, p. 1-15, 2024. EUROPEAN COMMISSION. Critical Raw Materials Act. Brussels: European Commission, 2023. Disponível em:https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en. Acesso em: 12 nov. 2025. EUROPEAN PARLIAMENT. Critical Raw Materials Act: Towards a more secure and sustainable supply of raw materials. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2025. Disponível em:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769504/EPRS_BRI%282025%29769504_EN.pdf. Acesso em: 12 nov. 2025. EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. China’s global security initiative. ISS, 2023. Disponível em: https://www.iss.europa.eu/publications/briefs/chinas-global-security-initiative . Acesso em: 12 nov. 2025. HEIDE, D. Rare earths: Europe, China and the risks of a one-dimensional decarbonization agenda. China Observers in Central and Eastern Europe, 28 ago. 2023. Disponível em: https://chinaobservers.eu/rare-earths-europe-china-and-the-risks-of-a-one-dimensional-decarbonization-agenda/ . Acesso em: 12 nov. 2025. JI, M. Expectations and Realities: managing the risks of Belt and Road Initiative. China Quarterly of International Strategic Studies, v. 1, n 3, p.497-522, 2015. JIEMIAN, Y. China’s “New Diplomacy” under the Xi Jinping administration. China Quarterly of International Strategic Studies, Vol.1, No. 1, 1-17. 201 KISSINGER, H. On China. New York: Penguim Press, 2011. KOTZ, R. et al. A nova Rota da Seda: entre a tradição histórica e o projeto geoestratégico para o futuro. Florianópolis: Repositório Institucional UFSC, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193931 . Acesso em: 12 nov. 2025. LEE, J. “The Geopolitics of South Korea—China Relations: Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific.” RAND Corporation, 2020. http://www.jstor.org/stable/resrep27748 . MACKINDER, H. Heartland: three essays on geopolitics. 1. ed. London: Routledge, 2011. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. Wang Yi expounds on China’s position on the Global South during the G77+China Summit. 1 set. 2025. Disponível em:https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202509/t20250901_11699912.html. Acesso em: 12 nov. 2025. NASCIMENTO, M. C. A nova rota da seda: interpretações sobre a ascensão da China para o Capitalismo Global. 2021. PAIVA, M. C. China-EUA: uma leitura da trajetória da disputa pela hegemonia. CEBRI-Revista, Rio de Janeiro, ano 1, n. 2, p. 53–69, abr./jun. 2022. PAUTASSO, D. China e Rússia e a integração asiática: O sistema sinocêntrico como parte da transição sistêmica. Revista Conjuntura Austral, v.2, n.5. Porto Alegre. 2011. Disponível em: http://oaji.net/articles/2015/2137-1437661747.pdf. PAUTASSO, D.; SCHOLZ, F. (2013). A Índia na estratégia de poder dos Estados Unidos para a Ásia. Conjuntura Austral, 4, pp.35-54. PAUTASSO, D; UNGARETTI, C. R. A Nova Rota da Seda e a recriação do sistema sinocêntrico. Estudos Internacionais: revista de relações internacionais da PUC Minas, v. 4, n. 3, p. 25-44, 2016. PAUTASSO, D; SOARES NOGARA, T; HEREJK RIBEIRO, E. A Nova Rota da Seda e as relações sino-indianas: o desafio do “colar de pérolas”. Mural Internacional, v. 11, n. 1, 2020. PIRES, M; PAULINO, L. A. “Reflexões sobre hegemonia política internacional da China: a iniciativa ‘“cinturão e rota’” como uma estratégia de desenvolvimento pacífico”. Relaciones Internacionales, v. 26, n. 53, p. 207-228, dez. 2017. POUILLE, J; THIBAULT, H. China, the energy transition superpower. Le Monde, Paris, 14 jul. 2025. Disponível em: https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/07/14/china-the-energy-transition-superpower_6743366_19.html . Acesso em: 12 nov. 2025. RIBEIRO, V; CUNHA, A. A. A nova Rota da Seda e o reposicionamento da China na globalização e na América Latina. FGV RIC Revista de Iniciação Científica, v. 5, n. 1, 2024. RODRIGUES, B. O pouso do dragão na América do Sul: uma análise dos China's Policy Paper on Latin America and the Caribbean e do projeto da Nova Rota da Seda. Brazilian Journal of Latin American Studies, v. 19, n. 37, p. 78-105, 2020. SANG, B. Geoestratégia da China e a Nova Rota da Seda: Uma análise a partir dos documentos oficiais chineses e seus desdobramentos para o Brasil. 2019. SARVÁRI, B. SZEIDOVICZ, A. The Political Economics of the New Silk Road. Baltic Journal of European Studies, Vol. 6, N. 1 (20), 2016. SHAMABAUGH, D. China Goes Global. The Partial Power. Oxford University Press. Nova York . 2012. STEEVES, B e OURIQUES, H. Energy Security: China and the United States and the Divergence in Renewable Energy. Contexto int. 2016, v. 38, n. 2, p. 643-662. UNITED STATES. Department of Defense. 2022 report on military and security developments involving the People's Republic of China. Washington, D.C.: Department of Defense, 2022. Disponível em:https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/3230516/2022-report-on-military-and-security-developments-involving-the-peoples-republi/. Acesso em: 12 nov. 2025. U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer in 2017. 5 fev. 2018. Disponível em: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34812 . Acesso em: 12 nov. 2025. WOMACK, B. Asymmetric parity: US-China relations in a multinodal world. 2016. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/310505662_Asymmetric_parity_US-China_relations_in_a_multinodal_world. Acesso em:12 nov. 2025. WORLD BANK. World Development Indicators. WorldBank, 2016. Disponível em: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators . Acesso em: 12 nov. 2025. Converted to clean HTML by WordToHTML.net
-
 Destaques
Destaques
Combate ao crime organizado na Amazônia: entre a securitização e a cooperação
Lenira Oliveira Em 9 de setembro de 2025 foi inaugurado o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPIA), sediado em Manaus. Com o investimento de mais de R$36 milhões, a unidade visa promover a colaboração entre os nove países amazônicos e os estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no combate a crimes ambientais, tráfico de ilícitos e de pessoas na região Amazônica (Brasil, 2025b). Essa iniciativa insere-se em um contexto de crescente avanço de organizações criminosas na Amazônia. As redes do narcotráfico, por exemplo, demonstram sua facilidade de adaptação e inovação, alterando seus métodos operacionais e fontes de receitas, diversificando seus interesses ao explorar mercados que oferecem mais rentabilidade e um menor risco, como é o caso do garimpo ilegal e da grilagem de terras (Mello, 2025). Diante desse panorama, pode-se refletir se a criação do Centro representa um avanço genuíno na cooperação regional ou é, tão somente, a face "internacionalizada" de uma política interna de securitização. Então, a presente análise busca investigar as potencialidades e os limites do CCPIA à luz da dicotomia securitização-cooperação, pois embora sua criação represente um passo importante para a integração policial, sua efetividade no longo prazo será determinada pela capacidade de superar uma lógica puramente securitizante ao priorizar uma cooperação multidimensional que enfrente as causas socioeconômicas da expansão do crime na região. A Amazônia e as complexidades associadas a ascensão do Crime Organizado Transnacional na região A Amazônia Internacional, ou Panamazônia, constitui um palco de complexidades únicas que favorecem a ascensão e a consolidação do crime organizado transnacional. Caracterizada por uma vasta extensão territorial de mais de 13 mil km de fronteiras no lado brasileiro, baixa densidade demográfica e uma presença estatal historicamente frágil e dispersa, a região oferece um ambiente propício para a proliferação de ilícitos (FBSP, 2023; Franchi, 2023). Nesse contexto de vulnerabilidades logísticas e institucionais, observa-se uma expansão preocupante de facções criminosas que exploram as fronteiras permeáveis para estabelecer uma estrutura espacial complexa, formada por pistas de pouso clandestinas, portos ilegais e estradas, conferindo fluidez à circulação de bens ilícitos (Couto, 2023). A natureza do crime na região é intrinsecamente transnacional e híbrida, caracterizando-se pela simbiose entre diferentes atividades ilícitas. O garimpo ilegal, por exemplo, não atua de forma isolada; ele financia e é financiado pelo tráfico de armas, que, por sua vez, fortalece facções criminosas dedicadas ao narcotráfico (ABIN, 2024; UNODC, 2023). Essa convergência criminal gera um ecossistema de ilegalidades onde crimes ambientais, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção se sobrepõem e se potencializam, criando um desafio multidimensional para as autoridades (UNODC, 2023). A geopolítica do crime na Amazônia é dinamizada pela atuação de atores diversificados e cada vez mais interligados. Facções brasileiras de origem prisional, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), expandiram sua influência para além das suas regiões de origem, articulando-se com cartéis andinos e grupos armados dissidentes, como as dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o Exército de Libertação Nacional (ELN) (International Crisis Group, 2024; FBSP, 2023). A interação entre esses diferentes grupos criminosos é particularmente crítica em zonas de tríplice fronteira, como a região do Trapézio Amazônico (Brasil, Colômbia, Peru), onde os rios servem como corredores naturais para o escoamento de drogas, ouro ilegal e madeira, tornando-a um epicentro de logística criminal (UNODC, 2023). As consequências dessa criminalidade desenfreada extrapolam a questão da segurança pública, impactando profundamente os direitos humanos, o meio ambiente e a soberania nacional dos países envolvidos. Nesse contexto, comunidades indígenas e tradicionais são as mais afetadas, sofrendo com a violência, o deslocamento forçado, a contaminação de seus rios por mercúrio e a insegurança alimentar (Amazon Underworld, 2023; Ardenghi, 2020). Paralelamente, a capacidade do Estado de exercer o controle legítimo sobre seu território é minada, à medida que grupos criminosos estabelecem formas de governança híbrida em áreas de baixa presença institucional, desafiando diretamente a autoridade e a integridade territorial dos Estados nacionais (Medeiros Filho, 2023). Diante disso, nota-se um esforço cada vez maior dos países da região em lidar com esse problema, à exemplo da criação do CCPIA, mas será esta uma solução verdadeiramente cooperativa ou apenas uma medida securitizante? O dilema entre a Securitização e a Cooperação Regional A ideia central por trás do conceito de securitização é de que se trata de um processo no qual uma questão é enquadrada como uma ameaça existencial, justificando ações extraordinárias e o uso prioritário de recursos de segurança e defesa (Buzan, 1998). Esse mecanismo implica também em uma construção retórica de insegurança que garanta que as políticas implementadas recebam a anuência da população (Balzacq; Léonard; Ruzicka, 2016). Portanto, esse termo acaba sendo extremamente relevante ao se pensar no seu reflexo na formulação de políticas públicas, podendo gerar mais males que benefícios à população. Entre os anos 1980 e 1990, o governo norte-americano tentou alavancar o discurso de “guerra às drogas” tanto no seu território quanto nos países latino-americanos (Carvalho, 2025). De forma geral, essa política se mostrou bastante ineficaz, resultando no aumento da população carcerária formada quase que majoritariamente por pessoas já marginalizadas na sociedade, como jovens e pessoas negras e periféricas (Carvalho, 2025). No cenário atual, contudo, percebe-se um maior distanciamento dessa percepção de necessidade de “guerra ao crime”, à medida que se enfatiza a cooperação com os países vizinhos e se rechaça qualquer tentativa de intervenção em questões internas por potências estrangeiras. Inclusive, em seu discurso de inauguração do Centro, o presidente Lula destacou que “Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções. As palavras-chave são ação integrada e cooperação.” (Brasil, 2025a). Diante disso, nota-se uma maior predileção por vias cooperativas para se lidar com a expansão do crime organizado na região amazônica. Apesar do esforço empreendido nessa iniciativa, que busca enfrentar os crimes transnacionais que afetam a Amazônia a partir da articulação conjunta entre forças de segurança pública do Brasil e de países vizinhos (Peduzzi; Verdélio, 2025), ainda se carece de mecanismos que tratem do problema desde uma lente multidimensional. A segurança multidimensional, que nasceu de uma nova concepção de segurança para o Hemisfério, reconhece a necessidade de ampliar a visão tradicional deste conceito para abranger também aspectos políticos, econômicos, sociais, de saúde e ambientais (Declaração..., 2003). Nesse sentido, o Centro pode ser entendido como um primeiro passo para se resolver em conjunto um problema comum, mas é indispensável que seu esforço seja empreendido com um maior envolvimento de agências de desenvolvimento e políticas sociais mais robustas que atendam as necessidades da população que habita na região. A perspectiva de segurança é uma dimensão importante para se lidar com a situação, mas também é imprescindível tratar as causas estruturais que levam à expansão de organizações criminosas na Amazônia. Portanto, é relevante fomentar a governança local e gerar alternativas econômicas sustentáveis, partindo da compreensão das singularidades da região e adequando as estratégias planejadas à essa realidade (Mello, 2025). Considerações finais Com base no exposto, pode-se inferir que o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia não deve ser considerado apenas um instrumento de securitização com uma roupagem cooperativa, mas ele ainda apresenta um potencial limitado para evoluir e se tornar um fórum de cooperação multidimensional de fato. Para seguir esse caminho, o CCPIA poderia incorporar as contribuições de organizações e representantes da sociedade civil no seu planejamento estratégico, bem como alinhar seu propósito com o de instituições que busquem promover o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Além disso, apesar dessa iniciativa representar um avanço significativo na integração em temas de segurança da região, ainda existem obstáculos para que a cooperação no tema seja mais duradoura. Assim, assimetrias e desconfianças históricas entre os países, instabilidade e mudanças de governo, além de recursos financeiros e humanos limitados em alguns Estados se colocam como desafios relevantes com o potencial de impedir a longevidade desse projeto. Logo, é salutar reconhecer o valor dessa iniciativa, porém, seu sucesso não reside apenas em sua mera existência, mas no caminho que ela irá traçar a fim de contribuir para uma cooperação em segurança mais ampla, perene e multidimensional. Referências AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN). Desafios de Inteligência: edição 2025. Brasília: ABIN, 2024. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8216. Acesso em: 13 out. 2025. AMAZON UNDERWORLD. Economias criminosas na maior floresta tropical do mundo. [S. l.], 2023. ARDENGHI, R. Análise do Impacto do Crime Transnacional Organizado sobre as Comunidades Indígenas da América Latina: o Caso do Brasil. El Paccto, 2020. BALZACQ, T.; LÉONARD, S.; RUZICKA, J. ‘Securitization’ revisited: Theory and cases. International Relations, v. 30, n. 4, p. 494-531, 2016. BRASIL. Presidência da República. Discurso do presidente Lula na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Presidência da República, 2025a. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2025/09/discurso-do-presidente-lula-na-inauguracao-do-centro-de-cooperacao-policial-internacional-da-amazonia. Acesso em: 13 out. 2025. _______. Em Manaus, Lula inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Brasília: Presidência da República, 2025b. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/09/em-manaus-lula-inaugura-centro-de-cooperacao-policial-internacional-da-amazonia. Acesso em: 14 out. 2025. BUZAN, B. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner, 1998. CARVALHO, I. A velha e falsa solução da guerra às drogas. Terras Indígenas no Brasil, 13 abr. 2025. Disponível em: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/229580. Acesso em: 14 out. 2025. COUTO, A. Geografia do narcotráfico e facções do crime organizado na Amazônia. Revista GeoAmazônia, Belém, v. 11, n. 22, p. 46-67, 2023. DECLARAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NAS AMÉRICAS. 2003. NEPP-DH, [s. d.]. Disponível em: http://crmm.nepp-dh.ufrj.br/oea1.html. Acesso em: 14 out. 2025. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279. Acesso em: 13 out. 2025. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Cartografias da Violência na Amazônia. São Paulo: FBSP, 2023. FRANCHI, T. Soberania e crimes ambientais na Amazônia: uma oportunidade para o Brasil atuar como líder regional? Diálogos Soberania e Clima, v. 2, n. 8, 2023. INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Um problema de três fronteiras: restringindo as fronteiras criminosas da Amazônia. Briefing n. 51, 2024. MEDEIROS FILHO, O. A natureza das ameaças na Pan-amazônia. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, 2023. PEDUZZI, P.; VERDÉLIO, A. Países amazônicos não precisam de intervenções estrangeiras, diz Lula. Agência Brasil, 9 set. 2025. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2025-09/paises-amazonicos-nao-precisam-de-intervencoes-estrangeiras-diz-lula. Acesso em: 13 out. 2025. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). World Drug Report 2023: the nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin. Viena: UNODC, 2023.