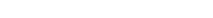20 de Novembro de 2019
Por Tiago M. Rubo
En el 04 de octobre, el profesor Óscar Mateos, investigador del grupo GLOBALCODES, realizó una conferencia en la Universidad de Navarra (campus Pamplona) sobre la nueva configuración geopolítica africana. El evento finalizó el ciclo de conferencias de la “Africa Summit”, coordinado por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Su discurso fue estructurado en 3 partes: visiones hacia fuera de África; hacia dentro de África; y una sesión de preguntas y respuestas.
El argumento principal del Prof. Dr. Mateos se resume en dos puntos: (1) la historia mundial atraviesa África, y, por lo tanto, entender África es entender el mundo y (2) no podemos reducir un continente a una sola historia, es necesario escapar de las simplificaciones de “afro-optimismo”y “afro-pesimismo”.
Para el orador, comprender la situación actual de seguridad africana implica comprender los cambios dentro del continente: el “boom” demográfico; la formación de una juventud políticamente comprometida; el salto económico de varios países; y una ola de democratización hacia el pluralismo político.
Pero también es necesario comprender los cambios en el sistema internacional, por la la importancia de los actores externos en la compra de tierras africanas, las inversiones en infraestructura e incluso la construcción de bases militares: los nuevos desafíos para el orden mundial liberal, que incluye algunas instituciones internacionales heredadas del siglo XX, incluido el multilateralismo y la hegemonía estadounidense; el ascenso de China como un “global player”; y la percepción occidental de África como una “amenaza” para la seguridad internacional.
El Prof. Dr. Mateos argumenta que África ha estado experimentando una verdadera “primavera africana” desde 2011, y que para que tenga lugar una integración global benigna para el continente debemos preguntarnos si los cambios deben venir del exterior o del continente: ¿a quién le interesan estos cambios?
11 de Novembro de 2019
por Tiago M. Rubo
Escenarios complejos
Entre las violentas protestas en Hong Kong y la fuerte brutalidad policial, el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, continúa la guerra comercial con los Estados Unidos. Un momento de agitación social en la esfera doméstica que no coincide con la energía de la política exterior. El presidente declaró en la conmemoración del 70 aniversario de la Revolución Comunista que “nada puede hacer temblar los pilares de nuestra gran nación. Nada puede impedir que la nación y el pueblo chinos avancen ”, según el periódico Folha de São Paulo.
Lo que estamos mirando actualmente en las relaciones internacionales chinas es un giro hacia el unilateralismo y el “hard-power”, con la construcción de bases militares en el Mar del Sur de China y en África. Hasta 2017, cuando la potencia asiática construyó una base en Yibuti, en el cuerno de África, no había precedentes chinos para una presencia militar permanente en países extranjeros. Según El País, la construcción fue un acuerdo entre los dos países. Pero aún así, no se puede negar la asimetría de negociación entre los estados chino y yibutiano.
Un giro
El protocolo de las Relaciones Exteriores de China, hasta 2017, debía buscar la llamada “Cooperación Sur-Sur”. Según Carmen Amado Mendes, profesora de la Universidad de Coimbra, en un artículo publicado en la revista “Relaciones Internacionales”, esta directriz china era una oferta de asociación económica que permitiría el desarrollo de países periféricos en una relación diferente de la que tendrían con las potencias occidentales. Esta cooperación distintiva tiene como una de sus características, por ejemplo, los Cinco Principios de la Convivencia Pacífica: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de otros estados, igualdad y beneficio mutuo (win-win). En resumen, una relación de “soft-power”.
¿Qué cambió en 2017? ¿Por qué ocurrió el punto de inflexión? Según el profesor Oscar Mateos, investigador del grupo GLOBALCODES, la creciente presencia económica de China en todo el mundo ha generado la necesidad de que el estado chino asegure sus inversiones con las fuerzas militares. Y, de hecho, si observamos el modelo de cooperación en infraestructura de China, los acuerdos en su mayoría hacen necesario que los principales trabajadores de la construcción sean ciudadanos chinos. Por lo tanto, el gobierno chino tiene que proporcionar una forma más sistemática de seguridad para sus ciudadanos en el extranjero.
Sin embargo, podemos pensar en algunas otras hipótesis. Según el influyente politólogo Amitav Acharya, en su artículo publicado en la revista Ethics & International Affairs en 2017, hoy vivimos en una era de instituciones liberales en declive. Desde la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hemos visto una retirada de las potencias occidentales de foros multilaterales como la ONU, la OMC y la UNESCO. Desde 2017, China había estado tomando el vacío de la presencia estadounidense en estos proyectos de cooperación internacional, y los BRICS fueron un síntoma de este fenómeno.
Sin embargo, China pronto demostró ser diferente de los países occidentales. Amitav Acharya llama a este nuevo escenario “Orden Mundial Multiplex”: el sistema internacional, como un cine, tiene varias películas que se reproducen al mismo tiempo, con diferentes narrativas y modelos, y depende de los países periféricos elegir en qué sala de cine ingresar.
Guerra Fría Revisitada
Entonces tenemos el siguiente escenario: un nuevo juego geopolítico que utiliza países periféricos como zona de disputa de poder. En la Guerra Fría, hablamos de “proxy-wars”: un conflicto armado en el que las partes no participaron en el combate directo, sino que utilizaron a terceros como intermediarios o sustitutos.
Si observamos la reciente crisis venezolana, con una lucha de poder entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus oponentes liderados por Juan Guaidó, quedó claro un escenario análogo a la Guerra Fría: Estados Unidos y otras potencias occidentales que apoyan a los opositores, no solo discursivamente, sino con ayuda humanitaria y amenazas de intervención militar; y Rusia, Cuba y China apoyando al gobierno de Maduro económica o militarmente. Deutsche Welle ya habla de guerras de poder en Yemen también.
Quien gana
El profesor Oscar Mateos de la Universidad de Navarra cerró su conferencia con la siguiente pregunta: “¿quién gana en la transformación geopolítica africana?” Podríamos ampliar la pregunta a: “¿quién gana en la transformación geopolítica en la periferia mundial?”.
Como Yan-Hang y Acuña reflejan en su artículo en Perspectivas latinoamericanas, los programas de cooperación de China en países periféricos no fueron unilaterales. Los países receptores deseaban utilizar la relación Sur-Sur como una oportunidad de crecimiento. Y de hecho, la promesa era buena. Lo que sucedió es que la gran mayoría de los proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno chino fueron
para estimular la economía neo-extractivista.
01 de Novembro de 2019
por Daniel Cunha Rego

Enquanto o noticiário internacional concentrava-se nas reviravoltas do Brexit e na briga entre governo e parlamento no Reino Unido, ocorreram, em 13 de outubro, eleições legislativas num importante Estado-membro da União Europeia na região central do Continente: a Polônia. E não eram quaisquer eleições: em 2015, o direitista PiS (Prawo i Sprawiedliwość, ou Lei e Justiça) retirou do poder o centrista PO (Platforma Obywatelska, ou Plataforma Cívica), ganhando 235 dos 460 assentos do Sejm (câmara baixa do parlamento polonês), agora seria a hora de mostrar os efeitos de 4 anos de governo. O partido ganhou, em 2019, os mesmos 235 assentos, mas assume o governo em um ambiente político bastante distinto, interna e externamente, enfrentando diversos desafios para a consolidação de seu poder.
Apesar da expressiva presença no Sejm, o PiS ficou a 3 assentos de formar maioria no Senado que, apesar de não ter poder para vetar legislação aprovada na câmara baixa, pode atrasar sua tramitação, bem como bloquear emendas constitucionais. Além disso, a esquerda, que havia ficado inteiramente de fora da última legislatura, conseguiu 49 assentos no Sejm sob a coalizão Lewica (A Esquerda), com destaque para o recém-fundado Wisona (Primavera) que, com 19 parlamentares, representa uma reação feminista e pró-LGBTQ a um governo nacionalista e ultraconservador.
Antecedentes: Crise constitucional, revisionismo e crescimento econômico
Em 2015, ano das eleições legislativas anteriores, a Polônia passou por uma crise jurídica além das disputas políticas. Pouco antes das eleições, o Parlamento ainda controlado pelo centrista PO elegeu de forma controversa 5 dos 15 juízes da Corte Constitucional, que não foram nomeados pelo Presidente Andrzej Duda [1]. Após a vitória do PiS e da formação de uma nova maioria no parlamento, outros 5 juízes foram eleitos e foi aprovada uma emenda que mudava a estrutura da Corte, exigindo, por exemplo, maioria de ⅔ para as decisões e o prazo mínimo de 6 meses, na prática paralisando-a. A emenda foi posteriormente declarada inconstitucional pela própria Corte, porém o governo recusou-se a publicar a decisão sob a alegação de que os novos procedimentos trazidos pela emenda não foram usados na decisão. A crise, evidentemente, não foi bem recebida em Bruxelas, tendo a Comissão Europeia iniciado procedimentos contra a Polônia por quebra da rule of law em uma disputa que se estende até hoje [2].
A reação da UE às medidas do governo polonês fortaleceram o chamado discurso “eurocético mole” do partido [3], apesar de não haver uma real possibilidade de um Polexit: o país, com uma economia exportadora, se beneficia enormemente do mercado comum e recebe ainda vultosos investimentos que em grande medida permitem seu crescimento a taxas que chegaram a 5,1% em 2018, além de financiar um salto na infraestrutura e os programas sociais do governo, como o Rodzina (Família) 500+, uma espécie de “bolsa família” lançado em 2016 que paga 500 złotych (cerca de 500 reais) a cada filho a partir do segundo, até que complete 18 anos [4].
A posição enfática contra a política imigratória de Bruxelas frente a crise de refugiados na Europa foi um dos fatores que levou à ascensão do PiS num dos países mais etnicamente homogêneos do continente [5]. Ideias conservadoras também encontram eco na população mais católica da Europa [6] , como a enfática oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo e tentativas de retrocesso em relação aos direitos reprodutivos [7]. A relação do regime com a Igreja escancarou-se com a detenção em maio da ativista Elżbieta Podleśna, que espalhou cartazes com uma imagem da Virgem Maria portando um arco-íris no lugar da auréola, apoiada publicamente pelo ministro do interior Joachim Brudziński.

Entre outras medidas controversas levadas a cabo pelo governo está uma guerra de narrativas históricas que vai desde a história recente pós-comunista até a relação da Polônia ocupada com o Terceiro Reich [8]. A expressão “campos de concentração poloneses”, por exemplo, foi proibida de ser utilizada em publicações no país num esforço para negar o colaboracionismo local. A liberdade de imprensa também sofre danos: segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras [9], o Estado transformou a imprensa pública em “porta-voz da propaganda estatal” e promove uma campanha de perseguição judicial a jornalistas e veículos opositores, como o diário Gazeta Wyborcza. Além disso, o discurso de ódio fomentado pelo governo é apontado como uma das causas do assassinato do prefeito liberal da cidade portuária de Gdańsk,Paweł Adamowicz, em janeiro.
O que a Polônia significa (hoje) para a Europa?
A Polônia aderiu à União Europeia no alargamento de 2004, junto com, dentre outros, Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Esses quatro países formam uma aliança chamada Grupo de Visegrád, ou V4, que tenta coordenar atuações em política externa e permitiu que entrassem todos na UE ao mesmo tempo. Uma das instâncias de disputa mais ferrenhas do grupo contra a hegemonia franco-alemã na União se deu durante a crise de refugiados, quando os quatro países decidiram não aceitar o sistema de cotas para solicitantes de asilo. Segundo o EU Observer, isso foi encarado por Bruxelas como uma “rebelião” [10].
Num cenário pós-Brexit, o V4 tende a ganhar influência na UE, contrabalanceando a aliança franco-alemã e adotando uma instância mais forte pelos estados centrais. Além disso, os V4 estão nas fronteiras externas da União e do Espaço de Schengen, tendo importância estratégica tanto para alargamentos futuros quanto para a definição das políticas fronteiriças do bloco [11]. O grupo, entretanto, não é tão coeso e dois polos distintos se percebe em: Polônia e Hungria adotam posições mais nacionalistas e radicais, questionando mais veementemente as políticas do bloco, enquanto República Checa e Eslováquia tendem a ser mais moderados, tendo a segunda inclusive adotado o Euro, recusado enfaticamente pela Polônia para um futuro próximo.
O grupo também tende a se posicionar no permanente debate entre uma “Europa Federal” ou uma “Europa de Nações” do segundo lado. Mesmo assim, imperativos econômicos vem aproximando a Polônia (maior e mais poderoso dos V4) da Alemanha, com quem sua indústria tem importantes laços. Em 2019, inclusive, a Polônia tornou-se um parceiro comercial mais importante para a Alemanha que o próprio Reino Unido [12], que enfrenta mudanças em sua relação com o mercado comum na iminência de sua saída da UE.
O que podemos esperar?
A aproximação com a Alemanha, entretanto, não é suficiente para que a Polônia ocupe um lugar de destaque na União Europeia. O país é ainda resistente à adoção do Euro, temendo um aumento repentino do custo de vida e a perda da vantagem cambial nas exportações, que respondem por cerca de ⅓ do PIB. Além disso, a indisposição com Bruxelas pelas reformas judiciais e pela deterioração do espaço democrático são entraves a possíveis pretensões de liderança e constituem uma barreira de legitimidade para a atuação europeia do país. É preocupante a sintonia do regime polonês com o húngaro comandado por Viktor Obran e com suas propostas declaradas de democracia iliberal e guerra demográfica.
A eleição polonesa envia sinais mistos para o futuro do país e do continente. Ao mesmo tempo que o discurso nacionalista vence mais uma vez, o governo se vê acuado pelo espaço adquirido pela oposição tanto nas ruas quanto no parlamento. Além disso, pesquisas para a eleição presidencial de 2020 apontam que a disputa não será fácil para o PiS, com chances reais de ser derrotado, o que dificultaria a continuação do aparelhamento das instituições pelo partido.
Varsóvia corre o risco de não ter seu tamanho e importância econômica espelhados em influência em Bruxelas e vem sofrendo pressões para moderação. Como no slogan Polska sercem Europy (A Polônia é o coração da Europa) do PiS para as eleições europeias de maio, uma Europa pós-Brexit precisa voltar seus esforços para o aprofundamento da integração continental, e a Polônia é um ator essencial que tem capacidade de ligar o Ocidente com o Oriente. Resta que assuma seu papel.
Notas
[1]
Vale pontuar que a Polônia é uma república semipresidencialista, com um Presidente como chefe de Estado eleito diretamente a cada 5 anos e um Primeiro Ministro como chefe de governo. Andrzej Duda foi eleito em maio de 2015, portanto antes das eleições legislativas, em outubro. As próximas eleições presidenciais serão realizadas em 2020.
[2]
Pouco antes da eleição, a Comissão Europeia iniciou um terceiro procedimento contra a Polônia na Corte Europeia de Justiça contra as reformas judiciais no país, que podem acionar a cláusula democrática dos tratados europeus.
[3]
Usa-se muito o artefato discursivo de que a União Europeia vê a Polônia como o “outro”, ou menos importante, que uma certa elite cleptocrata de Bruxelas tenta impor ao país medidas abusivas. Entretanto, uma pesquisa publicada em maio de 2019 pela CBOS (fundação pública de pesquisas) indica que 91% dos poloneses apoiam a permanência no bloco.
[4]
O programa, seguindo a ideologia do PiS, tem um duplo propósito: seu objetivo declarado, além de diminuir a pobreza, é estimular as famílias polonesas a terem mais filhos em resposta tanto à diminuição das taxas de fertilidade no país quanto ao que o governo percebe como uma espécie de “guerra demográfica” para barrar a entrada de migrantes, especialmente os não-eslavos.
[5]
Segundo dados de 2011, quase 98% da população se declara etnicamente polonesa.
[6]
Cerca de 85% da população se declarou católica em 2011.
[7]
O governo, com apoio dos setores conservadores, vem promovendo uma ofensiva não só contra o aborto, que já é bastante restrito no país, como também contra o acesso a métodos contraceptivos (incluindo pílulas anticoncepcionais, que precisam de receita médica), educação sexual e até fertilização in vitro.
[8]
Para uma análise sobre as dimensões do conflito de narrativas históricas, ver MANZINI (2017).
[9]
Verificar website do Repórteres Sem Fronteiras (2019).
[10]
Ver ZALAN (2016).
[11]
Esse fato adquire especial relevância porque aos poucos volta-se a falar do projeto de um “exército europeu” após a saída do Reino Unido, forte opositor da proposta. Ainda que a Polônia tenda a rejeitá-lo, a pressão do expansionismo russo na Ucrânia e o enfraquecimento da OTAN, que é questionada pelo governo dos Estados Unidos e enfrenta uma crise na Turquia, pode persuadi-la a considerar a proposta.
[12]
Ver PRZYBYLSKI (2019).
Referências
BROZKOWSKI, Roman. Under Attack: Reproductive Rights in Poland. Political Critique, 10 out. 2019. http://politicalcritique.org/cee/poland/2019/under-attack-reproductive-rights-in-poland/
CIENSKI, Jan. EU launches another infringement case against Poland. Politico, 10 out. 2019. https://www.politico.eu/article/eu-launches-another-infringement-case-against-poland/
MAZZINI, Mateusz. A three-dimensional conflict over Poland’s collective memory. Respublica. 30 nov. 2017. https://publica.pl/teksty/mazzini-a-three-dimensional-conflict-over-polands-collective-memory-62724.htm
PRZYBYLSKI, Wojciech. Poland’s new post-Brexit BFF: Germany. Politico, 8 out. 2019. https://www.politico.eu/article/poland-brexit-bff-germany/
REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. consultado em 30 out. 2019. https://rsf.org/en/poland
ZALAN, Eszter. The rise and shine of Visegrad. EU Observer, 30 dez. 2016. https://euobserver.com/europe-in-review/136044
28 de Outubro de 2019

Amanhã, o PET-REL tem a honra de receber a ex-aluna e graduada do IREL, Tawanna Lima, na oficina “Me formei, e agora?”.
A Tawanna é mestranda na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, na França, e abordará sobre os mitos e verdades sobre se aplicar a um mestrado no exterior.
O evento acontecerá amanhã (29.10), na sala de exames, IREL/UnB, às 18h.
Esperamos vocês lá!
11 de Outubro de 2019

O PET-REL torna público seu Boletim de Conjuntura de out/2019, XXIX Boletim de Conjuntura.
Nessa edição, o Boletim foi temático e abordou o tema Amazônia: Conjuntura em Disputa.
- Amazônia: conjuntura em disputa A Amazônia é nossa: política externa brasileira e soberania amazônica (Mauro Cazzaniga)
- Are we ever going to recover? Signals of a new global recession (Pedro de Souza Ferreira)
- O resgate da doutrina integracionista na atual conjuntura da política indigenista (João Pires Mattar)
- Os incêndios na Amazônia como catalisadores do debate acerca do conceito tradicional de soberania (Ana Luísa Vitali)
- “Precisamos da Alemanha?”, ou por que a cooperação internacional deveria ser bem-vinda (Gustavo Partel Balduino Oliveira)
- Um regime internacional para a Amazônia: utopia, globalismo ou alternativa? (Daniel Cunha Rêgo)
- O Brasil pode ser condenado pelas violações ambientais à Amazônia no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos? (Vanessa Ramos)
- Crise da Amazônia e reflexões sobre o protagonismo dos Estados (Luigi Fialho Vieira de Melo)
Convidamos todas à leitura de nossas análises.
20 de Julho de 2019
- Os elementos subjetivos da aproximação Brasil-Israel: a política externa brasileira pautada pela religião (por João Pires Mattar)
- O reencantamento metapolítico do Ocidente (por Mauro Cazzaniga)
- Perigos da seletividade de pesquisas e medicamentos para saúde global: as doenças negligenciadas e os países do Sul (por Marina Morena Alves)
- Repercussões internacionais do desastre de Brumadinho (por Gustavo Partel Balduino Oliveira)
- Religião como ativo político: o fenômeno na América Latina e evidências das últimas eleições gerais na Espanha (por Pedro de Souza Ferreira)
- Comoção seletiva: culpabilização, identidade e filmes de terror (por Rafael Duarte Oliveira)
- Quando a educação pública gratuita é passível de luto? (por Tiago Marques Rubo)
- A comoção seletiva e as relações de colonialidade (por Vanessa Ramos)
- Os diversos trajetos do avanço do terrorismo no Ocidente: a França como o principal alvo de ataques terroristas (por Willian Silva de Oliveira Alves)
- Admirável mundo novo: religião e relações internacionais na contemporaneidade (por Henrique Oliveira da Motta)
- Comunidades terapêuticas e religião no Brasil: laicidade, saúde e direitos humanso nos modelos de atenção ao uso prejudicial de drogas (por Letícia Plaza)
- A comoção internacional do refúgio: como momentos isolados demonstram a seletividade mundial (por Celso Coelho)
18 de Junho de 2019
O website atual do PET-REL foi lançado em Abril de 2020. Por isso, alguns conteúdos anteriores a essa data devem ser acessados no Blog-arquivo do programa.
Além disso, os Boletins de Conjuntura foram re-enumerados a partir de Junho de 2019 e optamos por não colocar no novo website as edições anteriores a essa data. Mesmo assim, essas edições continuam disponíveis no Blog-arquivo, bastando clicar aqui para acessá-las.
29 de Maio de 2019
Por Kamila de Sousa Aben Athar Alencar
Em 1º de maio de 2019, o Japão testemunhou um de seus eventos mais importantes: a troca de seu Imperador e, assim, o início de uma nova Era em sua história, denominada Reiwa (令和) . A coroação prematura de Naruhito se deu ao anúncio feito por seu pai, o Imperador Akihito, em 2016, quando declarou que abdicaria da trono japonês por questões de saúde. A data escolhida para a renúncia de Akihito foi o dia 30 de abril de 2019, que marcou os 30 anos de seu reinado e, consequentemente, da Era Heisei (ESTADÃO, 2019).
A mudança imperial apresenta maiores significados do que apenas a troca de representantes no Kyoko — Palácio Imperial do Japão —, pois é um recomeço social, econômico e até mesmo político no país asiático. Dessa forma, este novo capítulo nos permite traçar novas indagações acerca do papel japonês nas relações regional e internacional, bem como a sua estratégia de inserção externa frente à uma China cada vez mais poderosa. Portanto, a presente análise busca compreender o papel imperial no Japão em uma perspectiva histórica e os possíveis futuros passos para o país nesta nova Era.
O Japão conheceu quase 250 Eras, um número maior que a quantidade de Imperadores que reinaram o país durante toda a sua história, visto que era costume mudar os nomes para marcar um novo começo e renovação após desastres naturais ou outros eventos importantes (KAWANAMI, 2019). A primeira Era imperial japonesa foi iniciada sob o poder do Imperador Kōtoku em 645 a.C. Desde então, a figura do Imperador permaneceu na sociedade japonesa, com seus altos e baixos ao longo da história (FOLHA ONLINE, 2002).
Entre os anos 1192 e 1868, por exemplo, a figura do Imperador se viu reduzida à níveis mínimos de representatividade, visto que o sistema feudal à época favoreceu a figura dos Shoguns (senhores feudais) e samurais, os quais garantiram a estabilidade do país em um contexto de busca pela unificação nacional, acompanhado do isolamento internacional, dos conflitos internos e das guerras civis perpetuadas no Japão (RFI, 2019).
Contudo, apesar da tentativa de exclusão e afastamento total de estrangeiros ocidentais na ilha, os resultados subsequentes à Guerra do Ópio, ocorrida na China, fez com que o Japão temesse evitar o contato com as potências do Ocidente e sofrer tal retaliação equivalente. A ação coercitiva do Comandante americano Matthew Perry de forçar a abertura japonesa aos EUA por meio do uso da força, caso necessário, também foi peça-chave na decisão do shogunato em autorizar presença externa no país, o que não foi aprovado por todos (HENSHALL, 2004).
Deu-se início a um movimento nacionalista pelo fortalecimento da figura do imperador e rejeição aos “bárbaros” ocidentais por todo o país, o que veio a reduzir drasticamente o poder dos shogunatos na sociedade japonesa. Henshall (2004) explica que a incapacidade dos Shoguns em lidar efetivamente como a “ameaça” externa, para além de seus papeis como sendo os protetores militares do Japão, resultou na queda do regime shogunato.
Assim, a Era Meiji (1868-1912), conhecida como sendo a Era de industrialização e modernização do Japão, viu na figura de seu imperador (à época, o Imperador Mutsuhito), de 15 anos, a possibilidade de fortalecimento nacionalista frente aos estrangeiros. A estratégia japonesa consistiu, portanto, em aprender com as potências ocidentais os seus avanços tecnológicos a fim de conseguir replicá-los e fortalecer o poderio japonês. Desta forma, a presença ocidental se justificou no país ao passo que constituiu um meio de alcançar um fim específico e definitivo para o Japão, que ainda estava em uma realidade feudal e atrasada frente aos seus “inimigos bárbaros” (HENSHALL, 2004).
Segundo Henshall (2004), o poder da figura do Imperador ganhou novos traços mediante o fortalecimento do Imperialismo japonês na Segunda Guerra Mundial, em que o representante imperial incorporou a máxima de poder e status que o país asiático almejava conquistar nos cenários regional e internacional. Contudo, com o fim da guerra e com a adoção obrigatória de uma constituição redigida pelos norte-americanos ao Japão, o Imperador viu seu poder absoluto se tornar um poder de certa forma figurativo e limitado. A Constituição japonesa adotada em 1947 modificou os poderes delegados ao Imperador e ao governo. A própria Dieta (Congresso japonês) foi determinada como sendo o órgão de instância máxima de poder (MAIZLAND, 2019).
Neste contexto, a escolha do nome das Eras deixou de ser uma escolha do Imperador e passou a ser feita de acordo com um processo rigoroso independente da Casa Imperial, definido pela Dieta. Foi-se acordado que o termo selecionado deve ser novo, refletindo os ideais da nação. Por conseguinte, Heisei (平成), que significa “alcançar a paz”, “cumprimento da paz” ou “a paz prevalece em todas as partes” foi o nome dado à Era posterior à Segunda Guerra Mundial, a qual foi liderada pelo imperador Akihito, pai de Naruhito, com o fim da Era Showa em 1989, com o falecimento de seu antecessor, Hirohito (AFP, 2019).
Sendo assim, apesar dos desafios que o Imperador enfrenta mediante à sua não participação efetiva nas decisões políticas japonesas, ele ainda desempenha papel importante no desenrolar das atividades diplomáticas e políticas do país asiático (MAIZLAND, 2019).
O nome Reiwa [1], a 248ª era japonesa, representará o reinado de Naruhito, 126º imperador do Japão. “Reiwa é melhor interpretado como ‘bela harmonia’”, disse Masaru Sato, Vice-Cônsul geral e diretor do Centro de Informações do Japão, em Nova York (KAWANAMI, 2019 pp. 15). “Reiwa se refere à beleza das flores de ameixa depois de um inverno rigoroso, e é tomado como significando a beleza das pessoas quando elas unem seus corações para cultivar uma cultura” [2]. No entanto, de acordo com o historiador da Universidade de Tóquio, Kazuto Hongo, o primeiro caractere “Rei” (Rei -wa) pode ser interpretado como “ordem”, “comando” e “ditar”, invocando certo tom autoritário. Hongo também afirma que “o nome soa como se tivéssemos ordens para alcançar a paz, ao invés de fazê-lo de forma proativa” [3].
A explicação oficial sobre a escolha do nome anunciada pelo governo informa que os dois kanjis usados para Reiwa vieram da introdução de um conjunto de 32 poemas oriundas do século VII, com temas de flores incluídos em Manyoshu, a mais antiga antologia de poemas Waka [4] existente no Japão. “O nome da era representa um símbolo do amor à cultura do povo japonês e da natureza rica do país”, disse o Primeiro Ministro Shinzo Abe (KAWANAMI, 2019, pp. 17). “O nome da nova era se baseia em um texto sobre a natureza, que é diferente dos nomes da era anterior”, reiterou o Primeiro Ministro, apontando que pessoas de uma variedade de classes sociais – que vão desde imperadores a guerreiros e fazendeiros – todos contribuíram com poemas para o livro [5].
Entretanto, para além de uma representação cultural, o nome traz uma conotação direta política, resultante de um crescente sentimento de rivalidade com a China, o que pode ter levado Shinzo Abe e parte do governo a se distanciarem da literatura chinesa, que há muito tempo é fonte tradicional quando se trata de escolher um novo nome (YOSHIDA, 2019). Inclusive, membros do gabinete do Primeiro Ministro concordaram que o nome da nova era deveria ser escolhido a partir de um livro clássico japonês, não chinês. “O Japão esteve por muito tempo sob a influência chinesa e desfrutou de grandes benefícios”, disse Takeshi Iwaya, Ministro da Defesa japonês, em uma entrevista coletiva (YOSHIDA, 2019, pp. 4). Iwaya reitera “[…] mas o Japão cultiva sua própria cultura única há milhares de anos” [6].
A China, com uma postura cada vez mais agressiva na região, é tida com aquela que mais incomoda os vizinhos, principalmente o Japão. Aualmente, ambas disputam a liderança regional asiática, com seus projetos paralelos na região. A China oferece amplos recursos e investimentos por meio das iniciativas Belt and Road, bem como pela Parceria Recíproca Compreensiva Regional (RCEP, em inglês). Já o Japão se mobiliza com seus parceiros por meio do fortalecimento da Parceira Transpacífica (TPP, em inglês) agora com a saída dos Estados Unidos do bloco, o que prejudicou o alcance do grupo e especificamente de Tóquio, de maneira negativa (SOBLE, 2017).
Ademais, as disputas territoriais no Mar da China Meridional e Oriental estão tensas, pois não se trata apenas de uma batalha por petróleo, rotas marítimas ou depósitos pesqueiros, e sim também orgulhos nacionais em jogo (SARMENTO, 2012). A principal disputa entre Japão e China no âmbito territorial são as ilhas Senkaku (JAP) ou Diaoyu (CHI). O posicionamento oficial japonês afirma que as ilhas “Senkaku” são parte inerente do território do Japão e estão sob o controle válido do Governo do Japão (EMBAIXADA DO JAPÃO NO BRASIL, s.d.a).
De acordo com Tóquio, essas ilhas não foram incluídas no território que o Japão renunciou sob o Artigo II do Tratado de Paz de São Francisco no período pós-Guerra. Tal Tratado foi reconhecido no Tratado de Paz sino-japonês, que o Japão firmou em 1952 com a República da China (Taiwan). Não houve qualquer discussão acerca da soberania territorial das Ilhas Senkaku no transcorrer das negociações, apenas em 1971, quando a Comissão Econômica da ONU para a Ásia e o Extremo Oriente realizou pesquisa que indicava a possibilidade da existência de recursos petrolíferos (EMBAIXADA DO JAPÃO NO BRASIL, s.d.a).
Ademais, vale ressaltar que a questão concernente à Península Coreana também representa um desafio para Naruhito e família real. O Imperador Akihito, assim como o nome da sua Era expressa, buscou trazer um equilíbrio pacífico nas relações nipo-coreanas. Em seus discursos, Akihito foi o primeiro Imperador a oficializar um pedido de desculpa pelas atitudes de seu país durante a Segunda Guerra Mundial (SOBLE, 2015). Ademais, afirmou que a família real japonesa tem ancestrais coreanos, informação nunca antes oficializada e que, há pouco tempo, atrás ocasionaria em um grande escândalo devido ao questionamento à “pureza” racial sempre pregada pela família real (PINHEIRO, 2019).
Contudo, muitos entraves ainda perduram nas relações nipo-coreana, visto que o governo se recusa a endereçar um pedido de desculpas às vítimas sul-coreanas usadas na Guerra como mulheres de conforto. Em fevereiro do ano corrente, o Primeiro Ministro japonês Shinzo Abe denunciou o Senador sul-coreano, Moon Hee-sang, por seus comentários sobre o Imperador Akihito no que se refere ao pedido de desculpas nunca formalizado pelo Japão. Um dos comentários feitos por Moon foi a menção de que o Imperador Akihito era “o filho do principal culpado pelos crimes de guerra”, uma alusão direta ao Imperador Hirohito, pai de Akihito e imperador vigente no período das duas guerras (REYNOLDS, NOBUHIRO, LEE, 2019).
Ademais, assuntos territoriais, assim como com a China, também são matéria de litígio entre os governos japonês e sul-coreano. As ilhas Dokdo (COR) ou Takeshima (JAP) são reinvidicadas por ambas e não há previsão de desfecho na disputa. O discurso oficial do Japão é de que “Takeshima” é parte integrante e inerente do território japonês. De acordo com Tóquio, documentos históricos confirmam que o Japão tinha estabelecido a sua soberania sobre Takeshima até meados do século XVII. Além disso, “não há evidências contrárias para apoiar as afirmações da Coreia do Sul, de que a Coreia tenha tido controle sobre Takeshima antes do estabelecimento do Japão da soberania territorial” (EMBAIXADA DO JAPÃO NO BRASIL, s.d.b).
Nesse xadrez, as peças são movidas por questões econômicas, históricas e políticas. Sendo assim, percebe-se que o Japão está se preparando para uma nova era, não apenas cultural e social, como política e econômica. Não é de hoje que a nação nipônica expressa seus receios frente à potência vizinha, a China, seja no seu protagonismo regional ou internacional, bem como à Coreia, com as cicatrizes não curadas de um passado violento e traumático, principalmente no que tange à Coreia do Norte e às mulheres de conforto. O que fica a se pensar e compreender é como a mudança da era imperial pode iniciar um novo momento na história do Japão frente aos atuais desafios que encara.
Em busca de entender a inserção japonesa nessa nossa fase, a tentativa de se traçar cenários pode nos trazer insumos interessantes acerca das possibilidades de ação nipônica. O cenário mais positivo seria aquele no qual o Japão implemente e incorpore a máxima definida para esta era, que pauta suas ações na “bela harmonia”. Nesta realidade, o país procuraria, assim, estabelecer uma rede de diálogo e cooperação com seus vizinhos, especialmente a China, a fim de promover uma relação com ganhos mútuos (win-win) em prol do seu desenvolvimento e crescimento. Além disso, o reconhecimento das atitudes japonesas para com as mulheres de conforto e a devida indenização a elas pode ser um próximo passo de aproximação com a península coreana.
Já um cenário mais ameno pode ser resultado da promoção de ações menos estruturantes, com pouco fortalecimento do diálogo com os países vizinhos. Assim, se daria continuidade apenas às políticas neutras criadas na Era Heisei, sem implementar as políticas estruturais promovidas por Akihito ou sem se desenvolver algo consideravelmente novo.
Por outro lado, o cenário negativo se daria pelo crescimento do sentimento anti-China, presente desde a escolha do nome da nova Era. Como abordado anteriormente, parte da simbologia da terminologia Reiwa pode remeter a noções autoritárias, que, se associadas ao sentimento anti-China, pode resultar no distanciamento entre as potências asiáticas, bem como no endurecimento do posicionamento japonês frente a disputas territoriais existentes com os chineses, como é o caso das ilhas Senkaku ou Diaoyu, e com os sul-coreanos, como é o caso das ilha Dokdo ou Takeshima.
A questão das mulheres de conforto também é bastante delicada e pode resultar em entraves políticos e diplomáticos nas relações nipo-coreanas. Quaisquer afirmações promovidas pela família Imperial negando o episódio e não creditando responsabilidade do governo japonês para com as vítimas pode resultar no distanciamento de ambos os países e em movimentos contrários ao Japão.
Por fim, verifica-se que Naruhito tem vários desafios a sua frente e cada posiciomento seu pode resultar no afastamento ou aproximação com as nações vizinhas. Apenas o futuro poderá nos dizer qual cenário terá mais chances de se concretizar. Contudo, ressalta-se que o papel diplomático imperial pode ser peça fundamental no desenrolar dos eventos e nas ações promovidas pela Dieta e por Shinzo Abe nesta nova Era que se inicia.
Notas
[1] A sentença de introdução do termo “Reiwa” significa: “Em um auspicioso (Rei) mês de início da primavera, os ventos voam de maneira pacífica (wa)” (YOSHIDA, 2019, pp. 13).
[2] Ibidem, pp. 15
[3] Ibidem, pp. 16
[4] Waka é um dos formatos de poema/poesia japonesa mais antigos registrados e possui requisições estruturais específicas, como o curto tamanho e a escrita com o objetivo de expressar emoções. Nesse empreendimento, a poesia waka da poesia visa capturar emoções, ao invés de explicar ou defini-las, como faz grande parte das poesias ocidentais. Por fim, ela tem sua relevância, visto que Manyoshu é a mais antiga coleção de poesia japonesa, compilada no século VIII, e está escrita neste formato (COLUMBIA UNIVERSITY, s.d.)
[5] Ibidem, pp. 18
[6] Ibidem, pp. 5
Referências bibliográficas
AFP. Reiwa: um nome repleto de esperança para a nova era imperial no Japão. Isto é , 2019. Disponível em:
https://istoe.com.br/reiwa-um-nome-repleto-de-esperanca-para-a-nova-era-imperial-no-japao/ Acesso em: 15 mai 2019
COLUMBIA UNIVERSITY. What Is a Waka? Asia for Educators, s.d. Disponivel em: http://afe.easia.columbia.edu/special/japan_600ce_waka.htm. Acesso em 29 mai 2019
EMBAIXADA DO JAPÃO NO BRASIL. Posição do Japão Sobre as Ilhas Senkaku, s.d.a. Disponível em: https://www.br.emb-japan.go.jp/politica_externa/senkaku2.html. Acesso em 27 mai 2019
_____. Posição do Japão sobre as Ilhas Takeshima, s.d.b. Disponível em: https://www.br.emb-japan.go.jp/politica_externa/takeshima.html Acesso em 27 mai 2019
ESTADÃO. Reiwa: o nome da nova era imperial no Japão. O Estado de S.Paulo, 2019.
Disponível em:
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,reiwa-o-nome-da-nova-era-imperial-no-japao,70002807628. Acesso em 12 mai 2019
FOLHA ONLINE. Japão: História. Folha de São Paulo, 2002. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/copa/japao-historia.shtml. Acesso em 10 mai 2019
HENSHALL, Kenneth G. A History of Japan: from stone age to superpower. Reino
Unido: Palgrave Macmillan, 2004.
KAWANAMI, Silvia. 10 Fatos e Curiosidades Sobre a Nova Era Reiwa. Japão em Foco,
2019. Disponível em:
https://www.japaoemfoco.com/10-fatos-e-curiosidades-sobre-a-nova-era-reiwa/. Acesso em 06 mai 2019
MAIZLAND, Lindsay. The Japanese Emperor’s Role in Foreign Policy. CFR , 2019.
Disponível em: https://www.cfr.org/article/japanese-emperors-role-foreign-policy Acesso em 27 mai 2019.
PINHEIRO, Lara. Imperador Akihito abdica esta semana do trono do Japão; entenda a
sucessão. G1 , 2019. Disponível em:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/28/imperador-akihito-abdica-esta-semana-do-trono-do-japao-entenda-a-sucessao.ghtml. Acesso em: 01 mai 2019
REYNOLDS, Isabel; NOBUHIRO, Emi; LEE, Youkyung. Abe Says Japan Wants Apology for South Korean Remarks on Emperor. Bloomberg, 2019. Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-12/japan-demands-apology-for-south-korean-comments-on-emperor. Acesso em 27 mai 2019
RFI. Com abdicação do imperador Akihito, Japão se prepara para ‘nova era’. G1, 2019.
Disponível em:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/28/com-abdicacao-do-imperador-akihito-japao-se-prepara-para-nova-era.ghtml. Acesso em 20 mai 2019
SARMENTO, Claudia. Briga por ilhas entre China e Japão aquece águas do Pacífico. O Globo, 2012. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/briga-por-ilhas-entre-china-japao-aquece-aguas-do-pacifico-5894614. Acesso em 27 mai 2019.
SOBLE, Jonathan. Emperor Akihito Expresses ‘Deep Remorse’ for Japan’s Role in World War II. The New York Times, 2015. Disponível em: https://www.nytimes.com/2015/08/16/world/asia/emperor-akihito-expresses-deep-remorse-for-japans-role-in-world-war-ii.html. Acesso em 27 mai 2019
_____. After Trump Rejects Pacific Trade Deal, Japan Fears Repeat of 1980s. The New York Times, 2017. Disponível em: https://www.nytimes.com/2017/01/25/business/trump-tpp-japan-trade.html. Acesso em 27 mai 2019.
YOSHIDA, Reiji. What’s in a name? Reiwa reflects today’s politics, Japan’s cultural history and a social philosophy. Japan Times, 2019. Disponível em: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/02/national/politics-diplomacy/whats-name-reiwa-reflects-todays-politics-japans-cultural-history-social-philosophy/. Acesso em 27 mai 2019.
21 de Dezembro de 2018
Por Henrique Motta
No dia em que o matariam, Jamal Khashoggi preparou-se pela manhã para ir ao consulado saudita em Istambul, Turquia. O jornalista saudita havia visitado o local pela primeira vez no dia 28 de setembro para obter um certificado de divórcio que o permitiria casar com sua noiva turca. Contudo, foi instruído a retornar no dia 2 de outubro por funcionários da repartição. Com muros amarelos altos decorados com arame farpado, o consulado saudita ostenta uma aparência misteriosa. Suas paredes e portões de metal pesado pouco revelam sobre o que ocorre em seu interior. Apesar de não ser muito grande, o sobrado de pintura amarelada possui excêntrica imponência decorrente da impenetrabilidade de suas entranhas, o que o distingue do resto do cosmopolita distrito de Beşiktaş, onde está situado. Naquela terça-feira, dia 2, Khashoggi atravessou os portões do prédio para nunca mais deixá-los com vida. Seu desaparecimento, seguido da confirmação de sua morte, acabaria por desencadear uma crise internacional envolvendo altos escalões do governo saudita, cujos desdobramentos finais, o principal foco desta análise, ainda estão indefinidos.
Jamal Khashoggi era um jornalista proeminente. O saudita havia trabalhado na cobertura de eventos históricos, como a invasão soviética no Afeganistão e a consequente popularização da figura de Osama Bin Laden (BBC, 2018). Nascido em Medina, no ano de 1958, Khashoggi vinha de uma família poderosa de origem turca. Seu avô foi médico pessoal do rei Abdulaziz Al Saud, o fundador do reino da Arábia Saudita. Seu tio, Adnan Khashoggi, foi um famoso comerciante de armas que participou do esquema denunciado no escândalo Irã-Contras[1]. Dodi Fayed, empresário egípcio mais conhecido por seu relacionamento com a princesa Diana, era primo de Khashoggi. Sua família possuía bastante influência na política interna da Arábia Saudita, sustentando laços amigáveis com a realeza do país.
Embora as relações familiares com a família real fossem boas, as visões de Khashoggi o puseram em problemas dentro da nação árabe. Educado na Universidade de Indiana, trabalhou como correspondente nos EUA para jornais sauditas. Posteriormente, retornou a seu país natal, onde trabalhou em cargos importantes de diversos jornais. Durante sua carreira, o jornalista manifestou opiniões liberais vistas com desgosto pelos membros do alto escalão do governo saudita. Em 2003, Khashoggi foi demitido do jornal Al Watan por permitir que um de seus colunistas criticasse o acadêmico muçulmano Ibn Taymiyyah, o fundador do Wahabismo[2]. Após a demissão, o jornalista auto exilou-se em Londres. Posteriormente, voltou a trabalhar para jornais sauditas, e polêmicas como essa ocorreram múltiplas vezes envolvendo Khashoggi. Em 2016, o saudita foi proibido de aparecer em programas de televisão ou publicar textos após criticar em rede nacional o recém eleito presidente dos EUA, Donald Trump. Após o ocorrido, Jamal Khashoggi mudou-se para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar como colunista do pródigo jornal The Washington Post. O jornalista passou a ser figura frequente em programas televisivos americanos e ingleses, sempre manifestando opiniões críticas ao regime saudita. Com mais de dois milhões de seguidores no Twitter, Khashoggi tornou-se uma figura extremamente popular, e acabou por fundar a ONG Democracy for the Arab World Now (DAWN), cujo objetivo é promover a democracia e os direitos humanos nos países árabes.
Quando as câmeras de segurança mostraram Khashoggi atravessando os portões do consulado, tudo indicava que em alguns minutos ele seria mostrado fazendo o caminho inverso. Contudo, horas mais tarde ainda não havia sinal do jornalista. Sua noiva contatou a polícia turca e uma investigação foi iniciada.
Inicialmente os sauditas defendiam que Jamal Khashoggi havia deixado o prédio pela porta por onde entrou, mas as imagens das câmeras de segurança logo desmentiram essa versão. No dia 7 de outubro, o governo turco alegou ter evidências de que Khashoggi havia sido assassinado dentro do consulado. Posteriormente, no dia 10, a Turquia clamou ter vídeos e áudios que comprovavam o assassinato do jornalista dentro do prédio. Em seguida, o governo saudita admitiu a responsabilidade pela morte de Khashoggi, argumentando que o ocorrido seria consequência de um interrogatório que saiu do controle. Entretanto, novas evidências que apontavam que o jornalista foi torturado e morto foram descobertas (CNN, 2018). Detalhes sórdidos da morte do saudita foram revelados, e tudo indica que seu assassinato foi premeditado. No intervalo entre a primeira visita de Khashoggi ao consulado e sua segunda, uma equipe de 15 homens sauditas viajou à Turquia, estando entre eles especialistas forenses. Há evidências fortes que apontam para o envolvimento de Mohammed Bin Salman (MBS), o príncipe de maior importância no reino árabe, na morte de Khashoggi, mas oficiais sauditas continuam a negar que tenha havido qualquer envolvimento de membros da família real no caso. No dia 22 de outubro, a Reuters publicou matéria afirmando que Saud Al-Qahtani e Ahmed Asiri, oficiais sauditas e conselheiros de MBS fizeram uma ligação por Skype para o consulado enquanto o jornalista era torturado. As fontes do jornal, oficiais de inteligência sauditas e turcos, afirmam que os dois homens deram a ordem para que Khashoggi fosse morto, o que deixa bastante claro o alto grau de possibilidade do envolvimento de MBS no ocorrido.
O governo Turco tem adotado uma posição mais ríspida sobre o incidente. Recep Tayyip Erdogan, presidente do país, defende a tese de que MBS estava envolvido no crime e tem compartilhado evidências e relatórios com outros países, trabalhando para que a comunidade internacional continue a exercer pressão sobre a Arábia Saudita (BBC, 2018). Os turcos possuem uma acirrada rivalidade política com os sauditas. Em outubro de 2014, os árabes defenderam de forma bem-sucedida a não aceitação da candidatura turca para um assento não-permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Ademais, em 2017, Erdogan defendeu de forma ávida o Catar na crise diplomática[3] do país com os sauditas. O governo turco tem adotado uma agenda internacional apelidada como “neo-otomana” (BBC, 2018), sendo caracterizada por um expansionismo dos interesses do país sobre as nações do Oriente Médio. É possível que Erdogan tente utilizar o assassinato de Khashoggi para obter vantagens políticas sobre a Arábia Saudita.
As reações de outras nações sobre o caso foram variadas. Alemanha, Canadá, Dinamarca e Noruega congelaram vendas de armas para o governo saudita. Os mandatários de tais países condenaram o assassinato, tomando tal decisão concomitantemente. No comércio de armas, os sauditas não representam uma parcela significativa das exportações do grupo (TRADEMAP), o que não torna a medida custosa para essas nações. Contudo, para os árabes os custos serão grandes, pois a Arábia Saudita atualmente conduz uma intervenção militar na Guerra Civil do Iêmen. Tal congelamento certamente afetará as atividades militares do país, minando suas ações em território iemenita. Outros países, como a Espanha, apesar de o acontecido e exigirem mais explicações, não congelaram as vendas de armas por medo de enfraquecerem sua indústria nacional (EL PAÍS, 2018). Muitos países, como Malásia e Paquistão, também preferiram não adotar posições mais ríspidas contra o governo saudita, priorizando seus interesses comerciais devido à importância do país no mercado do petróleo.
Já os Estados Unidos, de Donald Trump, manifestaram-se repudiando o assassinato, mas claramente demonstraram inclinação a apoiar o governo saudita, aliado do país. O secretário de estado, Mike Pompeo, declarou que os americanos estão dispostos a apoiar os árabes na investigação. Ademais, após uma conversa telefônica com o Rei Salman, líder do governo saudita, Trump disse estar convencido de que a família real não teve envolvimento no crime e que os assassinos agiram de forma rebelde, pois a negação do Rei ao ser questionado pelo mandatário americano foi muito “forte”, segundo sua declaração. Na esfera interna, a questão dividiu os senadores e congressistas do país. Figuras importantes no senado, como Rand Paul e Bernie Sanders, defendem que os EUA mudem suas relações com o reino árabe. Tais políticos advogam pelo bloqueio de vendas de armas ao país e a aplicação de outras sanções econômicas. É provável que a administração Trump mantenha sua posição e continue ao lado dos sauditas, mas no dia 12 de dezembro, o senado americano aprovou uma resolução em que considera MBS como principal mandante do crime, interrompendo a ajuda militar americana à intervenção saudita no Iêmen.
A situação é um verdadeiro laboratório para os que se aventuram pelas teorias das relações internacionais. Pressupostos realistas, construtivistas e liberais estão sendo postos à prova, e a tendência é que os próximos desenvolvimentos permitam conclusões interessantes no campo teórico. Até o momento, está bastante claro que MBS teve envolvimento na morte de Jamal Khashoggi, embora ainda não seja possível dar um veredito definitivo. Contudo, as ações e manifestações da comunidade internacional foram brandas até agora. Muitos países, entre eles os EUA, relativizam seus princípios e valores quando seus interesses comerciais e estratégicos estão em jogo. Tal postura dá carta branca para que o governo saudita, uma das ditaduras mais brutais do mundo, continue a realizar atrocidades, como a ação militar injustificada do país no Iêmen e agora, o assassinato de Jamal Khashoggi. A morte do jornalista não foi uma exceção, mas sim a continuidade de um hábito. O assassinato, tortura e humilhação são o tratamento comum para os opositores do governo saudita, o que torna a história de Khashoggi uma “crônica de uma morte anunciada”. Talvez, com novas informações sendo divulgadas, a postura internacional torne-se mais ríspida. Mas por enquanto, o regime saudita continua impenetrável e as barreiras aos que tentam se opor a ele são altas, imponentes e repletas de arame farpado, como os muros que cercam o consulado do país em Beşiktaş.
[1] O Caso Irã-Contras foi um escândalo político nos Estados Unidos revelado pela mídia em novembro de 1986, durante o segundo mandato do presidente Ronald Reagan, no qual figuras chave da CIA facilitaram o tráfico de armas para o Irã, que estava sujeito a um embargo internacional de armamento, para assegurar a libertação de reféns e para financiar os Contras nicaraguenses.
[2] Wahabismo é um movimento do islamismo sunita, geralmente descrito como “ortodoxo”, “ultraconservador”,”extremista”, “austero”, “fundamentalista” e “puritano”.Seu principal objetivo é restaurar o “culto monoteísta puro”. Seus seguidores muitas vezes opõem-se ao termo wahhabismo por considerá-lo pejorativo, preferindo ser chamados de salafistas ou muwahhid.
[3] A Crise diplomática no Catar em 2017 refere-se à ruptura iniciada no dia 5 de junho de 2017 entre esse país e diversas nações muçulmanas — entre as quais encontram-se a Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, Líbia, Maldivas e Iêmen —, que anunciaram a suspensão das relações diplomáticas com o Catar, acusando o país de apoiar vários grupos terroristas na região, incluindo a Al Qaeda e o Daesh, e interferir com a política interna de seus países.Segundo apontam alguns meios de comunicação, a origem da crise seria encontrada em um ataque informático que ocorreu em maio do mesmo ano contra a Qatar News Agency.
Referências bibliográficas
BBC. Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist’s death. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399>. Acesso em: 17 dez. 2018.
______. Jamal Khashoggi murder: What is Turkey’s game with Saudi Arabia? Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-europe-45963642>. Acesso em: 17 dez. 2018.
CNN. Khashoggi’s last words disclosed in transcript, source says. 2018. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2018/12/09/middleeast/jamal-khashoggi-last-words-intl/index.html>. Acesso em: 17 dez. 2018.
Trade Map: Trade statistics for international business development. Disponível em: <https://www.trademap.org/Index.aspx>. Acesso em: 17 dez. 2018.
EL PAÍS. Spain not stopping arms sales to Saudi Arabia over Khashoggi killing. Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2018/10/22/inenglish/1540192063_943808.html>. Acesso em: 17 dez. 2018.
05 de Novembro de 2018
por Letícia Barbosa Plaza
No dia 21 de outubro a comunidade LGBTI estadunidense, e mais especificamente o segmento formado pela população trans, teve mais uma vez os seus direitos sistematicamente ameaçados pelo presidente da república. A administração Trump comunicou que está considerando fortemente definir o conceito de gênero perante ao Estado como uma condição biológica, imutável e determinada pela genitália no momento do nascimento. O New York Times referiu-se ao fato como “a medida mais drástica de um esforço governamental para reverter o reconhecimento e a proteção de pessoas trans sob a lei federal de direitos civis” (BENNER et al., 2018).
O Departamento de Saúde e Serviço Social (HHS) dos EUA está conduzindo o esforço, com o objetivo de estabelecer uma definição legal do conceito de “sexo” do Title IX, lei federal de direitos civis que proíbe a discriminação de gênero em programas educacionais que recebem assistência financeira do governo. O HHS argumentou que havia necessidade de que as principais agências governamentais adotassem uma definição explícita e uniforme de gênero, baseada “em uma base biológica clara, fundamentada na ciência, objetiva e administrável”. Segundo o departamento, essa definição distinguiria o sexo entre masculino ou feminino, apenas. Ademais, de acordo com o memorando concedido ao Times, qualquer disputa sobre o sexo de alguém teria de ser evidenciado por meio do seu submetimento a “testes genéticos confiáveis”. Na prática, isso significa que o reconhecimento legal de cerca de 1,4 milhão de indivíduos transgêneros estadunidenses pode ser liquidado (BENNER et al., 2018).
A adoção desse tipo de linguagem pseudocientífica pela lei resulta na legitimação da discriminação de pessoas trans pelo Estado e, consequentemente, promove a hostilidade e a violência contra essa população por meio de sua exclusão sistemática de políticas públicas para moradia, emprego, educação e saúde. O governo de Trump mostra-se, pois, como uma administração extremamente cruel e perigosa para a população LGBTI (além de outras minorias sociais). Cabe lembrar, aliás, que esse não foi o primeiro ataque de Trump contra a população trans (embora tenha sido extensivamente descrito pela imprensa local e internacional, bem como por organizações LGBTI como o pior até agora). Várias agências federais e outras instituições governamentais suspenderam políticas públicas da era Obama que garantiam direitos a minorias e reconheciam a identidade de gênero em escolas, prisões e abrigos para sem-teto.
Logo no início da administração Trump, já em fevereiro de 2017, os Departamentos de Justiça e da Educação retiraram a orientação do marco de 2016 que explicava como as escolas deveriam proteger os estudantes transexuais sob a lei federal do Title IX e, em março, o primeiro retirou a obrigação do HHS de tomar qualquer atitude perante a discriminação de pessoas trans em serviços de saúde. Mais tarde, em julho, o presidente anunciou via Twitter que o Governo dos EUA não aceitariam ou permitiriam que indivíduos trans servissem em qualquer instância do serviço militar estadunidense. Em fevereiro de 2018, o Departamento de Educação comunicou que iria recusar sumariamente quaisquer denúncias de exclusão de instituições educacionais baseadas apenas em identidade de gênero. Em maio, o Departamento de Justiça adotou a política ilegal de alocação quase total de pessoas trans em prisões de acordo com o sexo designado ao nascer, e não com sua identidade de gênero declarada. Em junho, o Procurador-Geral Jeff Sessions legislou estabelecendo que o governo não mais reconheceria violência de gangues e violência doméstica como motivo para asilo político, adotando uma interpretação que na prática rejeita a maior parte dos refugiados LGBTI (STINSON, 2018). Essas são apenas algumas dentre muitas outras políticas anti-LGBTI. Fica evidente, dessa forma, que essa população tem sido extensivamente perseguida pelo governo estadunidense, particularmente o segmento trans.
Além das consequências negativas óbvias para as populações LGBTI locais nos EUA, é possível compreender o fenômeno retratado por um escopo mais abrangente, quando se analisa o contexto internacional. Sendo Trump o chefe de Estado da nação que representa o centro do sistema, qualquer política doméstica introduzida por ele nos costuma ser acompanhada de repercussões internacionais. Na Islândia, por exemplo, quatro grupos de direitos LGBTI publicaram um comunicado conjunto em repúdio ao memorando apresentado pelo HHS, condenando o esforço do governo estadunidense de ignorar décadas de consenso científico e tentar apagar a existência de indivíduos trans e intersexuais (ICELANDIC, 2018). Na nota, os representantes dos grupos questionam a política externa dos EUA:
Esta proposta trans e intersexfóbica é particularmente desconcertante à luz da política externa dos Estados Unidos, que inclui o apoio vocal aos direitos LGBTI e a disposição de censurar outras pessoas por violações de direitos humanos. Em novembro de 2017, os Estados Unidos condenaram a violência homofóbica na Chechênia e, em maio passado, no Dia Internacional Contra Homofobia, Transfobia e Bifobia (IDAHOTB), o Secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que “os Estados Unidos estão ao redor do mundo afirmando a dignidade e igualdade de todas as pessoas, independentemente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero ou características sexuais.” Essa dissonância demonstra, na melhor das hipóteses, uma falta terrível de políticas definidas sobre os direitos das pessoas LGBTI. Na pior das hipóteses, é evidência de arrogância e hipocrisia.
– María Helga Guðmundsdóttir, Kitty Anderson, Alda Villiljós e Gunnlaugur Bragi, 23 de outubro de 2018 (tradução minha).
Se, por um lado, os representantes dos Estados Unidos tentam promover uma política externa progressista e inclusiva, rechaçando, aliás, a violência LGBTIfóbica na Chechênia, por outra, a comunidade internacional presencia uma aproximação dos chefes de Estado dos EUA e Rússia. Trump tem flertado descaradamente com Vladimir Putin em matérias de política externa, e com ele compartilha muitas características, incluindo a intolerância perante minorias sociais e, mais especificamente, a LGBTIfobia.
Embora haja divergências ideológicas incontestáveis entre EUA e Rússia, ambos os países participam de um movimento global muito mais amplo de rechaço aos direitos LGBTI. Vale lembrar que, na Rússia, até 1999, a homossexualidade era considerada como uma doença mental; mesmo tendo descriminalizado as interações sexuais entre pessoas do mesmo sexo em 1993, a nação ainda não reconhece a união homoafetiva e presencia um aumento das violências LGBTIfóbicas. Em 2013, o Estado russo passou uma lei controversa banindo a suposta corrupção de menores representada pela “propaganda gay”. A intolerância russa em relação à diversidade sexual e de gênero tomou proporções hecatômbicas na Chechênia de Ramzan Kadyrov: ao longo de 2017, um número inestimável de pessoas LGBTI foram presas por agentes do Estado, detidas sem julgamento, torturadas e, em alguns casos, assassinadas. O cantor Zelim Bakaev desapareceu na Chechênia em agosto de 2017 e não foi visto desde então (TATCHELL, 2018). Cabe ressaltar que Kadyrov é um protegido de Putin, que, em última instância, tem autoridade final sobre a Chechênia. Já em 2018, a Rússia foi recorrentemente retratada pela imprensa internacional pela negligência do Estado em relação aos ataques LGBTIfóbicos em plena Copa do Mundo.
Não é apenas no centro do sistema que percebemos a ascensão do conservadorismo intolerante e excludente. A Indonésia, por exemplo, que no passado costumava ser parcialmente tolerante e vinha demonstrando avanços nos direitos LGBTI (ainda que com considerável relutância), recentemente mudou sua postura perante a essa população, num fenômeno resultante de uma mistura tóxica de nacionalismo, populismo de direita e religião extremista (LEGON, 2018). Aplicativos de relacionamento gay foram proibidos; espaços privados foram invadidos (inclusive as residências das pessoas) e dois homens acusados de relações do mesmo sexo foram açoitados em público. Em 2016, o ministro da Defesa da Indonésia, Ryamizard Ryacudu, anunciou que o movimento LGBTI era uma ameaça maior que a guerra nuclear (LEGON, 2018).
Na América Latina, que experiencia a ressaca da Maré Rosa, materializada pelo avanço de governos autoritários e de direita, temos como exemplo recente da onda conservadora a eleição no Brasil de um presidente aberta e orgulhosamente homofóbico. Jair Bolsonaro é recorrentemente comparado a Trump pela imprensa internacional, retratado como uma versão ainda pior do presidente estadunidense. Foi o que escreveu o repórter Will Carless do Washington Post, ao afirmar, dentre adjetivos como “misógino” e “odioso”, que a “versão brasileira de Trump faz o Trump ficar parecido com o Mr. Rogers”, ou seja, um inofensivo comediante infantil. Ele retrata, também, o brutal espancamento da travesti Julyanna Barbosa por um grupo de homens, que gritaram: “Bolsonaro vai ganhar para acabar com os viados, essa gente lixo tem que morrer!” Desde que foi iniciada a jornada eleitoral, a Agência Pública de jornalismo contou ao menos 50 casos de ataques perpetrados por apoiadores de Bolsonaro, incluindo assassinatos (CARLESS, 2018). Ressalta-se que o Brasil já é hoje o país que mais mata pessoas LGBTI e especialmente pessoas trans em todo o mundo (AUN, 2017), isso antes de Bolsonaro tomar posse (o que acontecerá em 1º de janeiro de 2019).
Como bem pondera Carless, os EUA descobriram recentemente que as explosões de ódio de seu chefe de Estado induziram a um aumento abrupto nas estatísticas de crimes de ódio e brigas sangrentas iniciadas por jovens revoltados que tentavam impressionar seu presidente. No Brasil, que registrou um recorde de 64.000 homicídios em 2017, as palavras de Bolsonaro servirão como combustível capaz de aumentar a proporções desastrosas um incêndio que já vinha aumentando há tempos. Essa lição serve a todo o mundo, que passa por um momento de reação conservadora generalizada, tomando forma sob governos autoritários. Não apenas EUA, Rússia, Indonésia e Brasil protagonizam esse fenômeno: o Egito tenta criminalizar a homossexualidade e persegue pessoas LGBTI em aplicativos de relacionamento; na Turquia, Erdogan baniu todos os “eventos gays”; na Nigéria, entrou em vigor o Ato de Proibição da União entre Pessoas do Mesmo Sexo… A lista se estende.
A reação global generalizada se traduz facilmente em LGBTIfobia. No plano doméstico, chefes de Estado inflamam os discursos de ódio e legitimam a violência LGBTIfóbica. Internacionalmente, o ódio contra a população LGBTI é implantado como instrumento para minar os ideais de direitos humanos universais (LEGON, 2018). Trump encabeça essa tendência internacional, como líder de uma das maiores potências mundiais. Como projeção, pode-se esperar a continuidade da onda conservadora ao redor do mundo no futuro próximo, bem como mais retrocessos dos direitos LGBTI. Podemos esperar, ademais, um esforço incansável da ONU de proteger a população LGBTI por meio da iniciativa Livres & Iguais. Sempre houve e sempre haverá resistência por parte das minorias, e a sua organização em militância local já toma forma. Toda onda reacionária é seguida por uma onda progressista, e esta já se organiza em diversos países. É provável que o ativismo já consolidado em países como EUA, Brasil e Rússia – em que a comunidade LGBT é extremamente influente – produza reverberações internacionais.
Referências:
BENNER et. al. ‘Transgender’ Could Be Defined Out of Existence Under Trump Administration. The New York Times. Oct. 21, 2018. Disponível em: <>. Acesso em 28 de out. 2018.
KIDD, Jeremy D. Trump’s Effort to Erase Transgender Rights. The New York Times. Opinion – Letters. Oct. 22, 2018. Disponível em: <>. Acesso em 28 de out. 2018.
MERS, Josh. Reject fear-mongering of transgender people. Lexington Herald Leader. October 23, 2018. Disponível em: <https://www.kentucky.com/opinion/op-ed/article220522790.html>. Acesso em 28 de out. 2018.
STINSON, Bybex. The Discrimination Administration: Trump’s record of action against transgender people. National Center for Transgender Equality. 26 de julho de 2017. Disponível em: <https://transequality.org/the-discrimination-administration>. Acesso em 28 de out. 2018.
ICELANDIC Queer Rights Groups Release Joint Statement On New US Anti-Trans & Intersex Memo. The Reykjavík Grapevine. Published October 24, 2018. Disponível em: <https://grapevine.is/news/2018/10/24/icelandic-queer-rights-groups-release-joint-statement-on-new-us-anti-trans-regulation/>. Acesso em 28 de out. 2018.
AZIZ, Saba. Russia, football World Cup and rising homophobia. Al Jazeera. 18 Jun 2018. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/russia-football-world-cup-rising-homophobia-180612165056187.html>. Acesso em 28 de out. 2018.
TATCHELL, Peter. Why I took a stand against Russian homophobia. New Statesman America. 20 JUNE 2018. Disponível em: <https://www.newstatesman.com/world/2018/06/why-i-took-stand-against-russian-homophobia>. Acesso em 28 de out. 2018.
LEGON, Andy. Indonesia is about to give LGBT+ people the worst Valentine’s Day gift ever by making homosexuality illegal. Independent. Wednesday 14 February 2018 11:30. Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/gay-rights-indonesia-chechnya-worst-valentines-day-gift-a8210146.html>. Acesso em 28 de out. 2018.
CARLESS, Will. Brazil’s version of Trump makes Trump look like Mr. Rogers. The Washington Post. October 26. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/10/26/brazils-version-trump-makes-trump-look-like-mr-rogers/?noredirect=on&utm_term=.55c27a8a20a2>. Acesso em 28 de out. 2018.
KELLEHER, Patrick. ‘Proud homophobe’ Jair Bolsonaro on course to win Brazillian presidency, according to final polls. Pink News. Disponível em: <https://www.pinknews.co.uk/2018/10/28/jair-bolsonaro-brazillian-presidency/>. Acesso em 28 de out. 2018.