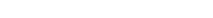Geração Z em Chamas: O Nepal Que se Levanta
Luísa Beatriz Ribeiro Silva
No início de setembro, o mundo assistiu atônito à juventude nepalesa tomar as ruas de Katmandu, ateando fogo em prédios do governo, em casas de ministros e em tudo que simbolizasse o Estado, enviando, assim, uma mensagem clara de insatisfação. A mídia internacional rapidamente retratou os protestos como uma revolta contra a recente proibição das redes sociais pelo poder executivo. Os manifestantes foram noticiados como jovens de uma geração completamente dependente do ciberespaço.
No entanto, uma análise mais profunda revela que esse episódio foi apenas o estopim de um processo de indignação que vinha se acumulando há anos, tendo como núcleo questões estruturais de caráter interno e externo, as quais estão intimamente interligadas: a fragilidade política e socioeconômica do Nepal e o seu lugar subordinado na ordem capitalista global. Desse modo, é necessário entender o contexto em que se deu a revolta e analisar a realidade econômica que rege a estrutura do país e a vida de seus cidadãos.
A Geração Z Contra o Governo do Nepal
Os protestos no Nepal começaram após a imposição, por parte do governo, da medida que limitou 26 redes sociais, entre elas WhatsApp, Facebook, Instagram e Wechat (Regalado; Chutel, 2025). Esta se justificou sob a alegação de que as plataformas não colaboram com a justiça do país, já que não restringem usuários que usam identidades falsas e espalham discursos de ódio e desinformação (Regalado; Chutel, 2025). É importante pontuar que, semanas antes da decisão, viralizaram nas redes os chamados nepokids nepaleses, filhos de políticos que ostentavam suas vidas luxuosas nas mídias, contrastando com a realidade da maioria do país. Nesse sentido, a população, majoritariamente os jovens, insatisfeita com a medida autoritária do governo, bloquearam rodovias e se dirigiram ao complexo do parlamento. Os manifestantes se descreveram como a “voz da geração Z”, lutando, para além da proibição vigente, contra a corrupção, o desemprego e a desigualdade que assolam o país.
Carregando pôsteres com palavras de ordem como “bloqueiem a corrupção, não as redes sociais", os nepaleses se fizeram ouvidos (Redação G1, 2025) e provocaram a renúncia do primeiro-ministro e de outras autoridades governamentais. As manifestações duraram dois dias até que o exército entrasse em cena, estabelecesse um toque de recolher e a situação se acalmasse. Antes disso, estima-se que 72 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (Regalado; Chutel, 2025; Sharma, 2025). O acontecimento mais recente foi a nomeação, após votação informal da população no aplicativo Discord, da ex-presidente do Supremo Tribunal, Sushila Kark, como líder do governo interina, que deve convocar novas eleições para o dia 5 de março de 2026.
Nepal e a Armadilha da Dependência
Desde sua transformação em república em 2008, o Nepal foi absorvido pela dinâmica do sistema centro-periferia, conceito desenvolvido por Raúl Prebisch e aprofundado por Celso Furtado. Segundo esses autores, as economias periféricas estão estruturalmente impedidas de alcançar um desenvolvimento autônomo, visto que se inserem no comércio internacional em condições desiguais: exportando produtos primários ou de baixo valor agregado e importando bens industrializados, o que leva à deterioração dos termos de troca (Furtado, 2007, Prebisch, 2000). Nesse modelo, a riqueza flui constantemente do Sul para o Norte global, reforçando o subdesenvolvimento. O caso do Nepal ilustra bem essa lógica: o país jamais desenvolveu um parque industrial robusto e permanece restrito a setores frágeis como o turismo, concentrado principalmente no Monte Everest, e as remessas enviadas por trabalhadores imigrantes. Assim, a economia nacional se sustenta sobre bases externas, tornando-se extremamente vulnerável a crises globais, às flutuações do mercado e ao sistema internacional.
Contudo, como destacam Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1969), a dependência não ocorre passivamente. Em sua teoria da modernização dependente, os autores argumentam que, mesmo em países periféricos, pode haver crescimento econômico, mas ele se dá de forma subordinada aos interesses externos, mediante a associação entre elites locais e capital estrangeiro (Cardoso e Faletto, 1969). Esse modelo não rompe com a condição periférica: ao contrário, ele gera uma modernização restrita e excludente, na qual uma pequena elite acumula riqueza e poder, enquanto a maioria da população permanece marginalizada.
No Nepal, esse padrão fica evidente. Embora o turismo e as remessas tragam recursos para o país, eles não promovem transformação estrutural, ou seja, que modifique a configuração vigente, nem geram empregos qualificados. Ao invés disso, fortalecem uma elite política e econômica profundamente corrupta, que se beneficia do sistema e mantém o país em situação de dependência permanente. Dessa forma, o episódio dos nepokids expôs, de forma clara, para a população esse movimento de suas elites. Tal arranjo cria um desenvolvimento desigual, no qual as classes mais altas ostentam luxos incompatíveis com a realidade da população, que vive em extrema pobreza e sem perspectivas de mobilidade social. A juventude, sem oportunidades, é forçada a emigrar, tornando-se parte de um ciclo perverso no qual a saída individual reforça a estagnação coletiva.
Desigualdade Estrutural e Fragilidade Econômica
Assim torna-se explícito que muito antes dos protestos, o Nepal já enfrentava dificuldades estruturais que moldaram o cenário atual de insatisfação. Trata-se de um país profundamente marcado pela estratificação social, em que a população é dividida em castas — brâmanes (casta mais alta), xátrias, vaixás, shudras e dalits (casta mais baixa). Esse sistema não se limita a uma herança cultural, mas atua como um mecanismo de reprodução das desigualdades, definindo, desde o nascimento, o acesso a direitos básicos, como educação e emprego (Bhul, 2021). Desse modo, ele consolida uma elite política e administrativa formada quase exclusivamente por brâmanes e xátrias, que continuam ocupando a maioria dos cargos públicos, o que pouco representa a população nepalesa.
Além disso, mesmo com a implementação de políticas de cotas voltadas para grupos marginalizados, a presença das castas privilegiadas ainda domina o serviço público, apesar de representarem apenas 30% da população (Shrestha, 2018). Tal discrepância evidencia que as políticas de inclusão têm funcionado mais como instrumentos simbólicos de legitimidade do governo do que como mecanismos efetivos de transformação social. Assim, o Estado nepalês mantém-se distante das demandas da maioria do povo, consolidando um sistema no qual os jovens das castas mais baixas não somente lidam com barreiras materiais, mas também a percepção de que a mobilidade social é uma promessa vazia. Esse sentimento de exclusão reforça a percepção de que o governo não representa seus cidadãos, intensificando o descontentamento e a desconfiança em relação às instituições.
Para além da desigualdade social e da ausência de representatividade política, o Nepal enfrenta uma economia estruturalmente frágil, incapaz de responder às necessidades de sua população. Em 2024, o país registrou um PIB de apenas US$ 42,91 bilhões, o que corresponde a 0,04% da economia mundial (PIB, [s.d]). A falta de industrialização limita a capacidade produtiva nacional, deixando a economia dependente de setores primários como a agricultura, que emprega mais de 70% da população, e do turismo (Nepal,[s.d]).
A estrutura econômica revela a condição periférica do Nepal no sistema capitalista global, na qual o país assume funções subordinadas na divisão internacional do trabalho. O indicador mais contundente dessa dependência é o peso das remessas enviadas por trabalhadores migrantes — em sua maioria jovens — que, em 2024, somaram US$ 11 bilhões (Regalado; Chutel, 2025). Essa realidade expressa um paradoxo: enquanto esses recursos sustentam a economia interna, a saída em massa de jovens em busca de melhores oportunidades representa uma fuga de capital humano, enfraquecendo ainda mais a capacidade produtiva do país.
Desse modo, o ciclo se retroalimenta: a ausência de empregos qualificados leva à emigração, que, por sua vez, perpetua a estagnação econômica. A dependência das remessas, portanto, não é apenas um dado econômico, mas um sintoma de um modelo sistêmico excludente, no qual as barreiras impostas pelo sistema de castas se combinam à falta de oportunidades econômicas. Nesse contexto, os jovens das castas mais baixas enfrentam uma dupla exclusão: dentro do país, têm seu acesso à educação e aos cargos públicos limitado pela hierarquia social; fora dele, são forçados a buscar empregos precários em outras nações, frequentemente em condições degradantes. Essa dinâmica aprofunda a percepção de que a mobilidade social é quase impossível, intensificando a sensação de injustiça somada à ineficiência do governo em solucionar esses problemas. Portanto, a juventude é colocada diante de uma escolha cruel — emigrar ou se resignar a uma realidade sem perspectivas —, acumulando uma frustração coletiva que, inevitavelmente, explodiria nos protestos recentes.
Considerações Finais
Nessa conjuntura, as redes sociais ocupam um papel simbólico e prático. Elas são, ao mesmo tempo, um elo de conexão entre os jovens que migraram e suas famílias no Nepal e um espelho das desigualdades internas, visto que expõem o estilo de vida ostentatório das elites políticas e econômicas (Regalado; Chutel, 2025). Quando o governo decidiu proibir essas plataformas, não somente cortou uma ferramenta essencial de comunicação para milhões de nepaleses, mas também tentou suprimir um espaço de mobilização e denúncia, no qual a indignação coletiva vinha se acumulando. A proibição das redes sociais foi apenas a faísca que acendeu o pavio de um barril de pólvora construído por décadas de estratificação social e dependência estrutural.
Nesse ínterim, Sushila Kark surge como um suspiro de esperança para uma população que há anos clama por mudanças complexas. Reconhecida por desafiar o establishment político e enfrentar a corrupção em uma sociedade marcada por desvios, sua nomeação como líder interina representa mais do que uma simples troca de autoridades: simboliza a possibilidade de um governo que se alinhe, ainda que parcialmente, com os anseios da população. Todavia, sua ascensão deve ser vista como um ponto de partida para enfrentar questões estruturais profundas. O desafio do Nepal é transformar essa liderança temporária em mudanças reais, que permitam à juventude — especialmente à Geração Z, protagonista da recente insurreição — vislumbrar horizontes concretos de participação, inclusão e justiça social. Essa faísca acesa pelos protestos pode, assim, converter-se em um processo de reconstrução política e social duradouro, capaz de romper com décadas de estratificação, de subdesenvolvimento e de dependência.
Referências bibliográficas
BHUL, B. Representative Bureaucracy: The Nepalese Perspective. Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration, v. 52, n. 1, p. 198–216, 1 out. 2021.
CARDOSO, F.H.; FALETTO, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
NEPAL - PIB Taxa de Crescimento Anual | 1993-2024 Dados | 2025-2027 Previsão. Trading Economics, s.d. Disponível em: https://pt.tradingeconomics.com/nepal/gdp-growth-annual. Acesso em: 28 set. 2025.
PIB do Nepal. Trading Economic, s.d. Disponível em: https://pt.tradingeconomics.com/nepal/gdp. Acesso em: 28 set. 2025.
PRASAIN, S.; PRASAIN, K. Billions lost, thousands jobless as Nepal counts cost of Gen Z uprising. Kathmandu Post, 14 set. 2025. Disponível em: https://kathmandupost.com/money/2025/09/14/billions-lost-thousands-jobless-as-nepal-counts-cost-of-gen-z-uprising.
PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas. In: BIELSCHOWSKY, Ricardo (org.). Cinquenta anos de pensamento na CEPAL. Rio de Janeiro: Record, 2000. v. 1. p. 69-136.
REDAÇÃO G1. Nepal escolhe nova premiê após onda histórica de protestos. G1, 12 set. 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2025/09/12/nepal-escolhe-nova-primeira-ministra-onda-protestos.ghtml. Acesso em: 28 set. 2025.
REGALADO, F; CHUTEL, L. Como começou? Quem protesta? O que saber sobre as manifestações no Nepal. InfoMoney, 13 set. 2025. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/business/global/como-comecou-quem-protesta-o-que-saber-sobre-as-manifestacoes-no-nepal/. Acesso em: 28 set. 2025.
SHARMA, G. Número de mortos em protestos do Nepal sobe para 72. CNN Brasil, 14 set. 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/numero-de-mortos-em-protestos-do-nepal-sobe-para-72/. Acesso em: 28 set. 2025.
SHRESTHA, P. Brahmins and Chhetris land most government jobs. Kathmandu Post, 16 out. 2018. Disponível em: https://kathmandupost.com/miscellaneous/2018/10/16/brahmins-and-chhetris-land-most-government-jobs. Acesso em: 28 set. 2025.
PIB do Nepal. Trading Economic, s.d. Disponível em: https://pt.tradingeconomics.com/nepal/gdp. Acesso em: 28 set. 2025.