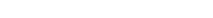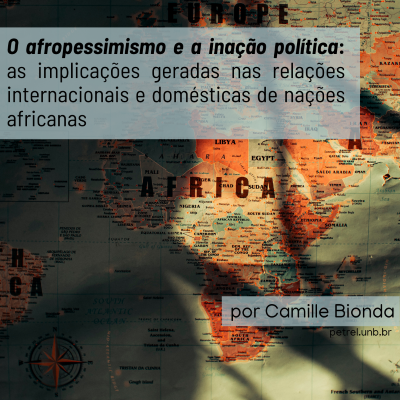por Camillie Bionda P. Mendes
Introdução
O termo afropessimismo se refere à cobertura negativa da África na mídia ocidental, especialmente em termos de sua tendência de interromper o desenvolvimento. Esse discurso forneceu a justificativa para políticas econômicas imperialistas dos anos 1970 e 1980 e reforça atualmente as relações neocoloniais entre o Norte Global e a África, muitas vezes sendo usado para justificar a presença desnecessária e contraproducente da indústria do desenvolvimento no continente (OKOTH, 2020).
A partir da década de 90, o afropessimismo também se mostrou um fator negativo para investimentos externos na África (WAPMUK e AKINKWOTU, 2017). Nesse sentido, afetou as nações africanas tanto em suas relações domésticas quanto internacionais. Ressalta-se que o contexto pós-Guerra Fria elucida a grande inação¹ política provocada pelo jogo de interesses no continente, onde durante os anos 60, grande parte dos países passavam por processos de independência. Assim, o desrespeito aos direitos humanos foi um fator para a falta de financiamento nos países africanos e a imposição da democracia é uma prática comum que existe ainda hoje, que sob o pretexto da violação dos DH, fazem parte do aval internacional e negligente para exploração de recursos naturais.
A África no pós-Guerra Fria, direitos humanos e a imposição da democracia
Para entender como o afropessimismo e a inação política interferem nas relações internacionais de nações africanas, é preciso entender o panorama histórico no continente. Durante a Guerra Fria, os países africanos eram frequentemente alvo de intervenções e apoio militar e econômico por parte das grandes potências, que buscavam influenciar a região mediante uma ordem internacional bipolar. Com o fim do conflito geopolítico, a atenção e os esforços de investimento diminuíram significativamente. Esse interesse se dava pela conquista de influência pelas duas super potências em disputa, Estados Unidos e União Soviética (idem. WAPMUK e AKINKWOTU, 2017).
Nesse viés, houveram muitos exemplos de intervenções e de apoio militares por parte das grandes potências, como exemplos: a Guerra do Congo (1960-1965) em que a União Soviética apoiou Patrice Lumumba e os Estados Unidos apoiou Joseph-Désiré Mobutu, que representavam diferentes grupos de combatentes na guerra civil que se seguiu à independência do Congo; a Guerra Civil na Angola (1975-2002), em que os EUA apoiaram a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a URSS apoiaram o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) que seguiu para a independência de Angola. Outro caso bastante emblemático é a Guerra da Fronteira Sul-Africana, também conhecida como Guerra de Independência da Namíbia (1966-1990), em que os EUA defenderam as Forças de Defesa Sul-Africanas (SADF), e a União Soviética, por sua vez, a Organização do Povo do Sudoeste Africano. Esses exemplos representam as inúmeras investidas do ocidente, que culminaram em países recém emergentes² como soberanos reconhecidos no cenário internacional (AHF, 2018).
No entanto, os anos 90 foram marcados pela imposição da democracia, o que criou instituições fracas e ineficazes que são dependentes de apoio externo para funcionar. Um exemplo recente de imposição da democracia na África é o que ocorreu na Líbia em 2011 com a Primavera Árabe (2010-2012). Naquele ano, o país foi sacudido por protestos populares que buscavam o fim do governo de Muammar Gaddafi, quem havia governado o país por mais de 40 anos. Os protestos foram violentamente reprimidos pelo governo, o que levou a uma intervenção militar liderada pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), mesmo que a Líbia não fizesse parte do bloco, com o objetivo de proteger a população civil. A intervenção militar resultou na queda de Gaddafi e na instauração de um governo provisório (HAMOUDI, 2012).
A intervenção foi justificada com o objetivo de proteger a população civil e promover a democracia, mas Hamoudi, professor de direito na Universidade de Pittsburgh, argumenta que a intervenção foi uma imposição da democracia pelos Estados Unidos, pois foi realizada sem o consentimento legítimo do povo líbio e sem um plano claro para o estabelecimento de uma democracia estável. Atualmente, a Líbia enfrenta problemas de instabilidade política e de segurança, e a democracia não foi completamente estabelecida no país (idem. HAMOUD, 2012).Nesse viés,a democracia foi imposta de maneira descontextualizada em muitos países africanos, o que contribuiu para a debilitação das instituições democráticas e para dependência em relação às potências mundiais (GRUÉNAIS e SCHMITZ, 1995).
Dessa forma, segundo os autores, a democracia é um elemento importante do sistema capitalista e que as potências mundiais têm interesses em promovê-la na África como uma forma de garantir o acesso a recursos e de manter o controle político e econômico no continente. Nesse contexto, Gruénais e Schmitz sugerem que a imposição da democracia em alguns países africanos foi uma resposta a pressões externas e não refletia as necessidades e as realidades locais (idem. GRUÉNAIS e SCHMITZ, 1995). Desse modo, fica evidente que a institucionalização da exploração no continente tem origens na colonização e na imposição neoliberal do Norte global sobre países marginalizados no Sul global.
A soberania e a inação política doméstica na África
Os autores Sharkdam Wapmuk e Oluwatooni Akinkwotu³ (2017, página) argumentam que, após a independência, os líderes africanos buscaram defender a soberania de seus países na política internacional e que, nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização da União Africana (OUA) foram estruturas de apoio externas que ajudaram a estabelecer e preservar a independência. Ambas as organizações pressionaram as potências coloniais para que desistissem de suas colônias, e forneceram assistência técnica e financeira aos países recém-independentes.
No entanto, os enormes desafios enfrentados após a independência, como a manutenção de fronteiras artificiais e parcialmente demarcadas herdadas da época colonial e a necessidade de lidar com conflitos internos e instabilidade política, marcada pela inação doméstica, destacam as dificuldades acerca do estabelecimento de soberania internacional, características observadas principalmente na África Subsaariana (idem. WAPMUK e AKINKWOTU, 2017).
Para evidenciar essas características, a história recente da Guiné-Bissau tem sido marcada por instabilidade política e econômica. Após a independência do país de Portugal em 1973, houve uma luta pelo poder entre as diferentes facções políticas, que resultou em vários golpes de Estado e tentativas de golpe. Em 1980, o país foi governado por um regime militar liderado por João Bernardo Vieira, que governou até 1999, quando foi deposto por um golpe de Estado liderado por Ansumane Mané. Mané governou até 2003, quando foi assassinado. Isso levou a eleições gerais, que foram vencidas por João Bernardo Vieira, quem voltou ao poder. No entanto, em 2009, Vieira foi assassinado, o que levou a mais eleições gerais e ao surgimento de um novo governo. Desde então, a Guiné-Bissau tem enfrentado problemas de instabilidade política e econômica.
Nesse viés, segundo dados fornecidos pelos Relatórios Nacionais de 2019 sobre Práticas de Direitos Humanos: de Guiné-Bissau, o país é um dos mais pobres do mundo e tem uma economia fraca, com baixos níveis de investimento estrangeiro e infraestrutura precária. Além disso, a corrupção é generalizada e o tráfico de drogas tem se tornado um problema crescente (DEPARTAMENTO, 2019).
Devido à instabilidade política e econômica, a Guiné-Bissau tem tido dificuldades em estabelecer relações com outros países e atrair investimentos estrangeiros, o que tem afetado negativamente o seu desenvolvimento econômico. De acordo com Taxa De Incidência da Pobreza nas Linhas de Pobreza Nacionais (% da população), levantada pelo Banco Mundial, o país teve, em 2018, 47,7% da população vivendo abaixo da linha da pobreza (BANCO MUNDIAL, 2018). Dessa maneira, a falta de investimentos e os sucessivos golpes, caracterizando a inação política, foram os pontos principais para o surgimento de instituições frágeis e da grande pobreza instaurada no país.
A inação política internacional e o Genocídio de Ruanda
Após o final da Guerra Fria, pelo fator de imposição democrática a países recém independentes, a inação política foi clara e se manifestou por meio da instabilidade política, da falta de resposta adequada a crises humanitárias, da demora em implementar reformas econômicas necessárias para promover o crescimento e reduzir a pobreza. Similarmente, ao baixo investimento em infraestrutura, de ação para combater a corrupção e a impunidade, e de investimento em setores importantes como a educação e a saúde, afetam o desenvolvimento a longo prazo do país.
As organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial exercem grande influência para o financiamento de países africanos. Entretanto, há inação política internacional por parte das Organizações Internacionais que resguardam os interesses do Norte global em detrimento de respostas adequadas à crises humanitárias, exemplificada na falta de apoio a projetos de desenvolvimento. É evidente que as OIsr são compostas por muitos países com interesses diferentes, tornando difícil chegar a um consenso sobre como agir em situações específicas. Além disso, muitas vezes há limitações em termos de recursos e de capacidade dessas organizações para agir de maneira eficaz. Porém, a inação política é provocada não só pela falta de recursos para agir, como também pela promoção do sistema neoliberal que molda as dinâmicas dos processos e das estruturas internacionais africanas.
Um dos principais exemplos da negligência forjada foi a falta de resposta adequada às advertências de que um genocídio em Ruanda estava se aproximando na década de 90. O telegrama do General Roméo Dallaire, enviado em 11 de janeiro de 1994 para seus superiores, foi apenas um dos muitos avisos sobre o massacre em massa que estava sendo planejado no Ruanda. De novembro de 1993 a abril de 1994, havia diversas outras indicações, incluindo uma carta de Dallaire de altos oficiais militares, alertando para matanças planejadas; um comunicado de imprensa de um bispo declarando que armas estavam sendo distribuídas para civis; relatórios de agentes de inteligência sobre reuniões secretas para coordenar ataques aos Tutsi, oponentes do Poder Hutu e aos mantenedores da paz da ONU; e incitações públicas ao assassinato na imprensa e na rádio (DES FORGES, 1999).
As organizações internacionais foram acusadas de não tomar medidas preventivas para evitar o genocídio, mesmo depois que as ameaças foram reportadas. Ademais, durante o genocídio em si, a ONU foi acusada de não fazer o suficiente para proteger a população civil e de não agir de maneira eficaz para deter o massacre (idem. DES FORGES, 1999).
Líderes internacionais recusaram colaborar para salvar vidas ruandesas, priorizando interesses próprios e evitando comprometimento de recursos. Ao mesmo tempo, funcionários das Nações Unidas se concentraram em evitar falhas nas operações de manutenção da paz, sem considerar a perda da população ruandesas. 3A inação política durante o genocídio de Ruanda foi amplamente condenada e levou a uma revisão das políticas e práticas das organizações internacionais em relação à proteção dos direitos humanos e à prevenção de conflitos (idem. DES FORGES, 1999).
O afropessimismo e a exploração econômica do norte global
O afropessimismo é uma teoria em que os países africanos estão condenados ao fracasso e à subalternidade em relação às potências mundiais devido às estruturas de poder econômico, político e cultural estabelecidas durante a colonização e que continuam a influenciar as relações internacionais até os dias de hoje. Alguns afropessimistas argumentam que essas estruturas de poder, junto com a inação política internacional e a dependência econômica dos países africanos, criam um ciclo vicioso de exploração e subdesenvolvimento na África. Dessa forma, os estereótipos negativos e os discursos de "desenvolvimento" são utilizados para justificar a intervenção e o apoio externo nos países africanos, o que pode levar a uma dependência ainda maior e a um aprofundamento da subalternidade (idem. RODNEY, 2018).
Os discursos de "desenvolvimento" são falas e práticas que visam melhorar as condições econômicas e sociais de um país ou região. No contexto apresentado, esses discursos são muitas vezes usados pelos países do Norte global para justificar a intervenção e o apoio externo nos países africanos, com o objetivo de ajudar a "desenvolvê-los". Mas, novamente, como parte da institucionalização exploratória dos países do Norte global, isso está equivocado, uma vez que é parte do interessa na exploração de recursos naturais na região.
Um exemplo de como esses discursos podem beneficiar os países do Norte global é através da exploração de recursos naturais. Países africanos são explorados pelas nações mais ricas através da extração de recursos e da desvalorização de suas moedas, reforçada pelo sistema financeiro internacional e pelos acordos comerciais desiguais que beneficiam os países do Norte global em detrimento dos países africanos. Essa exploração e desvalorização cria um ciclo de dependência e subdesenvolvimento fazendo com que os países da África sejam incapazes de desenvolver-se de forma independente (idem. HAMOUD, 2012).
Prova disso é a exploração de petróleo no Golfo da Guiné. Muitos países da região, como Angola, Nigéria e Guiné-Bissau, possuem grandes reservas de petróleo e gás natural que são exploradas por empresas estrangeiras, como a Chevron (empresa petrolífera estadunidense), a ExxonMobil (empresa multinacional de energia), a Eni (empresa petrolífera italiana) e principalmente a Shell (petrolífera britânica). Os recursos podem ser vendidos a preços baixos devido às condições econômicas precárias dos países e à falta de capacidade de barganha. Os lucros obtidos com a venda do petróleo são transferidos para os países do Norte global, enquanto os países africanos continuam na mesma condição (SHARIFI, s.d).
Os Panama Papers revelaram que os lucros do petróleo da Nigéria nos campos de petróleo de Agbami desapareceram devido a atividades offshore e falta de transparência no setor de petróleo e gás do país. Os campos de petróleo de Agbami, também conhecidos como "ouro negro", representam cerca de 35% do PIB da Nigéria e são uma fonte de riqueza para muitos magnatas africanos. No entanto, rastrear os lucros da Agbami é difícil, pois há pouca informação disponível de organizações destinadas a fornecer um registro público do dinheiro pago ao governo por empresas de recursos. A Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas da Nigéria (Neiti) inclui apenas informações até 2012 e o relatório de 2015 revelou que a Star Deep, uma empresa da Chevron, não pagou royalties em 2012, embora devesse $ 66,5 milhões. A subavaliação em 2012 totalizou US$ 366,2 milhões, e o governo da Nigéria pode ter perdido US$ 4 bilhões em receita nos últimos sete anos apenas com acordos de compartilhamento de produção. A indústria de petróleo offshore torna mais difícil determinar o custo real e permite que evidências de poluição, deterioração da infraestrutura ou sabotagem sejam ocultadas (idem. SHARIFI, s.d).
Conclusão
Frente a todas as considerações dessa análise, a África é um continente diverso marcado por acontecimentos e continuidades que são afetados externamente, mas que também afetam o globo. É inegável a posição estratégica que a África fornece no contexto mundial dos recursos naturais para os países do norte global. Contudo, a exploração institucionalizada de potências ricas não inviabilizam a mudança fomentada pelas próprias nações africanas. Portanto, é preciso identificar a inação política e o afropessimismo como uma herança ocidental que provoca as desigualdades observadas no continente que é muitas vezes colocado como responsável pelo próprio ciclo exploratório.
[1]
Segundo Allan McConnell & Paul ’t Hart, a inação política refere-se a instâncias em que os decisores políticos “não fazem nada” sobre questões sociais.
[2]
Recém independentes e de baixo desenvolvimento econômico.
[3]
O artigo As dinâmicas da África nas relações mundiais: do afro-pessimismo para o afro-otimismo?, de Sharkdam Wapmuk e Oluwatooni Akinkwotu, discute as mudanças ocorridas nas relações internacionais da África após o processo de descolonização e a independência dos países africano.
[4]
Jornal investigativo reconhecido pela Internacional Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Referências Bibliográficas
AHF. Nuclear Museum. História. Proxy Wars During Cold War Africa. Disponível em: https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/history/proxy-wars-during-cold-war-africa/#_ftnref4. Acesso em: 12 de jan. de 2023.
BANCO MUNDIAL. Pobreza - Pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza (% da população). [S.l.], 2021. Disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=GW. Acesso em: jan. 2023.
DEPARTAMENTO DE ESTADO dos EUA. 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Guinea-Bissau.
DES FORGES, Alison. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. New York: Human Rights Watch, 1999.
GRUÉNAIS, Marc-Éric; SCHIMITZ, Jean. L’Afrique des pouvoirs et la démocratie. Cahiers d’ztudes africaines, 137, XXXV-1, 1995, pp. 7-17. Disponível em: https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_35-36/42059.pdf. Acesso em: 12 jan. 2023.
HAMOUDI, Haider Ala. Arab Spring, Libyan Liberation and the Externally Imposed Democratic Revolution. Articles Faculty Publications, University of Pittsburgh School of Law, 2012.
MC CONNEL, A.; & 't HART, P. (2019). Inaction and public policy: understanding why policymakers 'do nothing'. Policy Sciences, 52, 645-661.
OKOTH, Kevin. The Flatness of Blackness: Afro-Pessimism and the Erasure of Anti-colonial Thought. Salvage.zone. Disponível em: https://salvage.zone/the-flatness-of-blackness-afro-pessimism-and-the-erasure-of-anti-colonial-thought/. Acesso em: 15 jan. de 2023.
RODNEY, Walter (2018). How Europe Underdeveloped Africa. London: Verso. p. xxii. ISBN 9781788731188.
WAPMUK, Sharkdam; AKINKWOTU, Oluwatooni. As dinâmicas da África nas relações mundiais: do afro-pessimismo para o afro-otimismo? Revista Brasileira de Estudos Africanos, v.2, n.4, p.11-31, Jul./Dez. 2017.
SHARIFE, Khadija. How Nigeria's lucrative oil profits disappear. Panama Papers. ANCIR. Disponível em: https://panamapapers.investigativecenters.org/nigeria-o